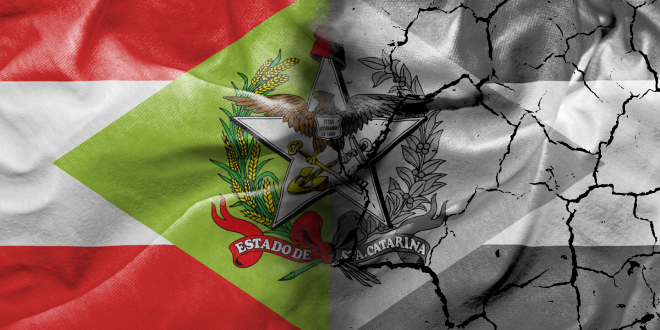A lembrança dolorosa do golpe de 11 de setembro de 1973 paira sobre a história do Chile e da América Latina como uma ferida aberta: naquela manhã, com o palácio La Moneda, sede do governo chileno, sendo bombardeada e o governo constitucional de Salvador Allende derrubado. Após o golpe, inaugurou-se uma ruptura profunda que não foi apenas política, mas civilizacional, com a instalação de uma ditadura militar que se tornaria a primeira experiência histórica em grande escala de um projeto neoliberal autoritário, interrompendo abruptamente aquilo que muitos consideram a mais importante tentativa de construir um socialismo democrático no século XX.

A tragédia chilena foi seguida por quase duas décadas de ditadura brutal sob o comando do General Augusto Pinochet, que implementou a mais radical experiência neoliberal já conhecida. Além das milhares de vítimas da repressão, os resultados sociais para o povo foram ruinosos, onde até mesmo a previdência social foi privatizada. Contudo, ainda que tendo um desfecho trágico, o legado da experiência do projeto socialista democrático é relevante e merece ser revisitado, principalmente por ser um dos capítulos mais inovadores da esquerda no século XX.
Allende, médico de formação e político experiente, havia sido senador, ministro e quatro vezes candidato presidencial antes de sua vitória em 1970. Eleito com o apoio da coalizão chamada Unidade Popular (UP), que agrupava os partidos socialistas, comunistas, radical, Social-Democrata e outros setores de esquerda em torno de um programa de “transformações revolucionárias” através do Poder Popular. Tendo por base os Comitês de Unidade Popular, formados durante a campanha eleitoral e organizados em locais de trabalho, territórios, etc, mantidos após a vitória de Allende e que exerceriam uma forma experimental de democracia direta. Durante o governo se desenvolveram também outras formas inéditas de organização popular, que tornam singular a experiência chilena, sendo os chamados Cordones Industriales, talvez a mais notável destas experiências.
Esses cordões — conselhos de fábricas e empresas articulados territorialmente — foram órgãos de coordenação e democracia operária autônoma que emergiram em 1972–1973 como resposta direta ao bloqueio produtivo e demais tentativas patronais de sabotar a economia. Era uma tentativa de criar redes de solidariedade e autogestão entre setores industriais. Em diversas cidades e bairros, trabalhadores articularam-se em cordões que coordenavam produção, distribuição de insumos e reivindicações, funcionando como espaços de poder popular que buscavam democratizar decisões produtivas e sociais à margem, e às vezes em tensão, com as estruturas sindicais oficiais e o próprio governo. Os cordones expressaram uma tentativa concreta de criar instituições de participação popular que pudessem sustentar uma transição para um socialismo de base democrática.
Em síntese, Allende propôs uma transformação social radical dentro dos marcos institucionais da democracia chilena. Este projeto não era meramente reformista; aspirava a uma transição gradual para uma sociedade socialista sem abandonar o pluralismo político, o Estado de Direito ou os mecanismos eleitorais. Allende acreditava que era possível usar as instituições burguesas para superar o capitalismo, não entrando aqui no mérito dos limites desta consiga, era inequivocadamente uma tese ousada que desafiou ortodoxias tanto da esquerda quanto da direita global.
A inovação do governo Allende em sua tentativa de aliar socialismo e democracia, em um contexto de Guerra Fria, era quase heresia para ambos os lados. Para a esquerda revolucionária, sua adesão à legalidade parecia lenta e comprometida; para a direita e os EUA, seu projeto era uma ameaça inaceitável. A originalidade da “via chilena” manifestou-se em medidas concretas: a nacionalização do cobre (considerado “o salário do Chile”) foi uma ação estratégica para a soberania dos recursos naturais. Programas sociais pioneiros, como a distribuição gratuita de leite para crianças, consultórios médicos populares e a ampliação do acesso à educação, foram implementados para melhorar imediatamente as condições de vida dos mais pobres. Economicamente, o governo promoveu um aumento do controle estatal sobre a produção, mas sem eliminar completamente o setor privado, optando por um modelo de três setores: estatal, misto e privado.
Um outro exemplo da ousadia inovadora que estava em curso foi o projeto “Cybersyn” (ou Synco), que hoje, num olhar retrospectivo desde a evolução do “capitalismo de dados”, mostram sua antevisão estratégica. Idealizado pelo cientista britânico Stafford Beer, o sistema consistia em uma rede de telex conectada a um computador central que recebia dados econômicos em tempo real de fábricas por todo o país. O objetivo não era criar uma centralização burocrática, mas sim uma ferramenta de gestão descentralizada e participativa, permitindo que trabalhadores e governo tomassem decisões rápidas e informadas para orientar a economia de forma democrática. O projeto foi uma tentativa única de usar a tecnologia cibernética não para controle autoritário ou lucro capitalista, mas para empoderar a classe trabalhadora e aprofundar um processo socialista democrático.
Ao mesmo tempo, a experiência de Allende enfrentou uma tempestade perfeita de fatores adversos: um arranjo parlamentar fragmentado que dificultou consensos, dificuldades de gestão macroeconômica num contexto de escassez e inflação, conflitos sociais polarizados e, decisivamente, uma ofensiva concertada de atores internos e externos com o objetivo explícito de desestabilizar o processo. Documentos desclassificados e investigações históricas mostram que, no plano externo, houve uma política sistemática de oposição ao governo chileno por parte da administração norte-americana daquela época, que combinaram ações políticas, econômicas e de inteligência para “fazer a economia gritar” e minar a viabilidade do projeto da esquerda chilena. Importante destacar esta como uma realidade que, mesmo discutida quantitativamente em termos de influência, não pode ser dissociada do contexto de violência que culminou no golpe.
A trajetória da experiência chilena impõe duas reflexões complementares e difíceis: por um lado, a demonstração de que avanços sociais significativos podem surgir por meio de processos eleitorais e institucionais; por outro, a demonstração de que esse caminho é extremamente vulnerável quando enfrenta inimigos dispostos à ruptura e quando as instituições democráticas não estão suficientemente robustas para repelir tentativas de desestabilização. A conjugação de tensões sociais, choques econômicos e interferências externas criou um terreno no qual a própria ideia de uma transição pacífica ao socialismo foi esmagada por uma combinação de força bruta e engenharia política.
Contudo, a derrota histórica de um projeto político coletivo, não significa seu sepultamento. Ele pode, sob novas condições ou mesmo se ressignificado para o presente, assumir novas formas e potencialidades, em uma espécie de “vingança da história”. No século XXI, em meio a crise das democracias, resgatar a ideia de uma democracia socialista é uma necessidade que se atualiza, podendo ser um meio de trazer capacidade de ousadia para a esquerda recuperar o protagonismo perdido.
Erick Kayser é Mestre em História e Membro da Executiva e Secretário Geral do PT de Porto Alegre