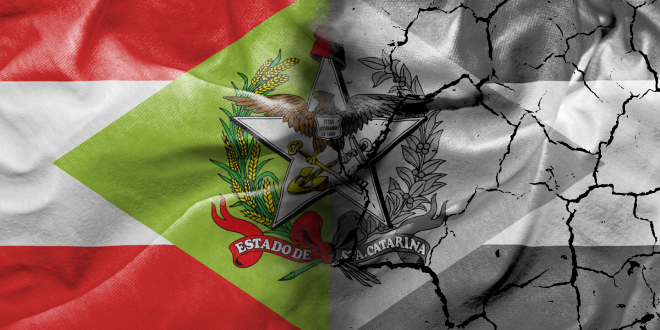As recentes chacinas nas comunidades da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, não podem ser tratadas como episódios isolados de “combate ao crime organizado”. São expressões de um projeto político mais profundo: o da dominação territorial e simbólica sobre as populações negras e pobres, sustentado por uma lógica militarizada que serve tanto a interesses internos quanto a estratégias internacionais de controle. Em território nacional, a chacina é parte de uma resposta do bolsonarismo após decretada a prisão da principal liderança que movimenta o centro das ideias políticas da extrema-direita, bem como um elemento que traduz o “não recuo” frente às eleições de 2026, por isso as nossas mobilizações e direcionamentos seguem rumo à derrubada do projeto político de morte e encarceramento que eles querem para nós.

Na agenda global, a ofensiva militarizada contra territórios populares no Brasil dialoga com a política de dominação imperial conduzida pelos Estados Unidos na América Latina. A retórica da “guerra às drogas” e do “combate ao terrorismo” tem sido instrumentalizada como justificativa para a intervenção — direta ou indireta — em países como Venezuela, por todo o mar do Caribe. Foram 16 embarcações destruídas e bombardeadas em alto mar. O último ataque matou três pessoas, sustentado na narrativa de combate ao narcotráfico, mesmo sem qualquer elemento que demonstrasse a possibilidade de haver drogas nas embarcações. Quando dizemos que isso tudo é parte de um projeto político de dominação, perpassa também o elemento da exploração dos nossos bens-comuns e escancara o conflito capital versus vida que coloca o lucro acima de tudo. A Venezuela possui a maior reserva de petróleo do mundo, estimada em 303 bilhões de barris (159 litros cada) e, como sabemos, o comércio internacional tem o Petróleo como prioridade para se fazer negócios e, para os Estados Unidos sob comando trumpista, não importa quantas vidas sejam tiradas pelo caminho.
Recentemente, Paraguai e Argentina, que hoje estão sob governos de direita, passaram a classificar facções como grupos terroristas, alinhando-se à lógica imperialista de demonizar a imagem da periferia e do povo negro para ter licença para matar e dominar os territórios. Afinal, o projeto de dominação do império estadunidense se constrói a partir da dominação cultural, intelectual e, de forma mais concreta, pelo território. O que se projeta é uma rede continental de controle, na qual as periferias urbanas, comunidades rurais e as fronteiras nacionais são tratadas como zonas de exceção, laboratórios para a repressão e a vigilância.
No plano interno, o Brasil vive um aprofundamento desse projeto. Projetos de lei que fortalecem o aparato repressivo tramitam no Congresso, impulsionados por uma bancada de direita militar cada vez mais organizada e influente, como o que foi apro vado na Argentina e no Paraguai – leia mais sobre geopolítica e imperialismo no portal Brasil de Fato. A categoria dos “autos de resistência” — eufemismo que há décadas encobre execuções sumárias de pessoas negras e pobres — segue sendo instrumento de legitimação de chacinas, enquanto a mídia tradicional reproduz o discurso da guerra, naturalizando a violência e desumanizando os corpos negros.
Em 2018, o assassinato de Marielle Franco marcou uma inflexão estratégica do movimento negro, porque sempre soubemos que essa era uma ameaça contra a nossa organização e fizemos a escolha estratégica de recuar para nos mantermos vivos e vivas. O assassinato de Marielle buscou silenciar o movimento negro e feminista, que ampliou o alcance através da denúncia da atuação criminosa da milícia no Rio de Janeiro, que sustenta a direita e extrema-direita que hoje ocupa, também, o parlamento. Essa tentativa de nos silenciar, recebeu uma resposta direta nas urnas com a vitória de diversos quadros negros qualificados nas eleições de 2020 e 2024. Marielle mostrou que o povo preto desse país faz política e transforma vidas. Eu sou parte disso.
Este ano o Brasil recebe a COP 30, em Belém do Pará e o racismo ambiental se expressa na sua forma mais cruel, nesse mesmo projeto de domínio e extermínio. Ele se manifesta quando as populações negras e periféricas são sistematicamente expostas aos impactos socioambientais das políticas de exploração e negligência estatal. Nas cidades, isso se traduz na concentração de comunidades negras em áreas de risco, sem acesso a saneamento básico e sujeitas a desastres ambientais cada vez mais frequentes. No campo, o racismo ambiental aparece na expansão do agronegócio e na contaminação de territórios tradicionais por agrotóxicos e mineração predatória. Essa violência ambiental não é apenas efeito colateral do capitalismo, mas parte estruturante de uma política que escolhe quem pode viver e quem pode morrer, subordinando a natureza e os corpos radicalizados à lógica do lucro e da acumulação.
A chacina que ocorreu no Rio de Janeiro é também um reflexo direto desse racismo ambiental, pois revela como o Estado age de forma seletiva e violenta nos territórios onde o descaso do poder público frente à educação ambiental, a falta de infraestrutura e o abandono social já configuram formas cotidianas de extermínio. Na mesma periferia onde o esgoto corre a céu aberto e o lixo se acumula nas encostas, a presença policial chega não para garantir direitos, mas para consolidar o controle pelo medo e pela morte. O racismo ambiental e a militarização, como parte constitutiva do racismo como opressão estruturante do sistema capitalista e patriarcal são, portanto, faces de uma mesma engrenagem de dominação, que transforma o território negro em campo de guerra e o corpo negro em alvo. Denunciar essa conexão é essencial para compreender que a luta por justiça ambiental é também uma luta contra o genocídio da população negra.
Findada a COP 30, entramos nas vésperas das próximas eleições e só voltamos o olhar para o debate racial neste país a partir de uma operação que resultou em pelo menos 132 mortes — entre civis e agentes de segurança — na periferia do Rio de Janeiro, em comunidades historicamente negras e empobrecidas. Tal cifra — que marca o mais letal massacre policial da história recente do estado do Rio — não é um incidente isolado, mas expressão de um padrão que revela o CEP dos corpos exterminados: da periferia. Por exemplo, em 2023 o Brasil registrou mais de 6.000 mortes em intervenções policiais, das quais 82,7% eram de pessoas pretas ou pardas (dados publicados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública). Esse dado impõe uma convicção urgente: nossos movimentos sociais, parlamentares e o próprio governo Lula precisam tratar a luta antirracista como centro do programa político-estatal antes das mortes, no cotidiano e na elaboração de políticas públicas efetivas, com orçamento garantido para implementação. Ou seja: antirracismo não como discurso de emergência, mas como linha estratégica, que orienta juventude, segurança pública, educação, habitação e reparação.
A realidade das operações militares ostensivas, criminosas e violentas não é isolada do Rio de Janeiro. Na última semana, ocorreram operações em territórios periféricos de Mossoró, no bairro Alto do Sumaré e Nova Mossoró, sem qualquer transparência que justifique a motivação ou apresente os métodos, apenas com notícias em torno do número de atingidos e armas apreendidas, afinal, são esses dados que fazem o atual modelo de segurança pública considerar as operações como exitosas.
Em um cenário como esse, vem à tona a análise que fazemos sobre a chegada da Penitenciária Federal em Mossoró, mexendo com todas as peças do contexto de um município do interior que, a partir disso, foi colocada em uma nova realidade ao precisar lidar com o crime organizado no dia-a-dia da cidade. O Brasil tem cinco penitenciárias federais e uma delas controla a dinâmica e a vida em uma cidade pequena, no interior do estado, que tem conexão com diversos outros municípios menores e pouco se fala sobre o que significa a chegada de toda a estrutura social que acompanha a penitenciária. Essa também é uma lógica capitalista de expansão de mercado do crime organizado através do tráfico, por isso, o debate em torno da descriminalização das drogas precisa levar em conta toda a lógica estruturante, que funciona a partir de um caminho mercadológico já conhecido. Faz parte do comportamento estratégico do capitalismo avançar das grandes capitais para o Brasil profundo, controlando, também, as periferias das cidades de médio porte, as comunidades rurais que a cercam e os territórios de reforma agrária.
Nesse sentido, tudo se conecta. A chacina que aconteceu nas comunidades Penha e Alemão estão servindo como um modelo a ser implementado em outros estados sob governos de direita, que utilizam esses instrumentos letais, como é a polícia militar, para sustentar o projeto político que garante a manutenção do poder. A nível estadual, sob governo petista no Rio Grande do Norte, temos a segurança que esse modelo de morte não será implementado. Construímos, enquanto Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, a compreensão de que a violência com mira na periferia e nos corpos negros, é uma questão de classe.
A compreensão do debate racial como um debate de classe, é construída a partir de elementos básicos do que sustenta ou do que é sustentado pelo sistema capitalista e patriarcal. É isso que a Marcha Mundial das Mulheres apresenta desde sua fundação, como surgiu, em diversos momentos, no debate de divisão sexual e racial do trabalho e como apresenta, agora, em preparação para a Marcha das Mulheres Negras que deve dar como resposta, uma mobilização massiva nas ruas de Brasília no dia 25 de novembro. É doloroso e revoltante que o nosso momento de luta, reencontro e de esperança seja pautado por morte, mas é essencial que estejamos organizadas frente à ofensiva da direita sobre nossas vidas e que o nosso discurso esteja alinhado pelo fim do sistema capitalista que tenta, a todo modo, nos dividir e que a marcha seja um marco nas mobilizações nacionais do país e do mundo com capacidade de virar a conjuntura.
Portanto, a Marcha das Mulheres Negras precisa pautar, no centro do debate, a reivindicação de um orçamento amplo para o Ministério de Igualdade Racial, que dê condições reais para implementação de políticas públicas voltadas ao povo preto desse país. Nesse sentido, a nossa auto-organização não pode perder de vista a construção de um movimento feminista, popular e antissistêmico que traga, no centro do debate, a luta antirracista, como é o feminismo da Marcha Mundial das Mulheres, especialmente a partir da capacidade de construir o debate racial olhando para a raiz estruturante do problema: a classe.
O desafio agora é ampliar o horizonte desse debate: incorporar o tema racial como questão estrutural da democracia brasileira, não apenas como agenda do povo negro. O 20 de novembro — Dia da Consciência Negra — que em 2025 será feriado pelo segundo ano, precisa reafirmar esse papel, mobilizando a classe trabalhadora como um todo para enfrentar o modelo de segurança pública que se sustenta na eliminação de uma parte dela e pelo fim da escala 6×1, que precariza, ao longo da história a vida e o trabalho das pessoas negras e pobres desse país.
Nesse sentido, o governo federal tem responsabilidades decisivas. Investigar as operações que resultaram em massacres, distinguir o que foi extermínio do que foi resistência à prisão, e fortalecer políticas como o plano Juventude Negra Viva são passos urgentes. É preciso também garantir orçamento real para o Ministério da Igualdade Racial e enfrentar o debate sobre a desmilitarização da polícia, rompendo com a lógica de guerra que trata cidadãos como inimigos internos.
As universidades, os meios de comunicação e as plataformas digitais também devem ser responsabilizados por sua parte nesse processo. As big techs lucram com a disseminação de imagens de violência, transformando o sofrimento em espetáculo e consolidando uma linguagem simbólica que normaliza o genocídio. É essa estética da brutalidade que alimenta o discurso político da extrema-direita, convertendo a morte em mensagem e o medo em método de governo.
Reorganizar a pauta da segurança pública exige inteligência, sensibilidade e coragem política. Exige também reconhecer que a luta contra o extermínio da juventude negra é, no fundo, uma luta pela reconstrução democrática do país. A chacina no Rio não é apenas uma política de segurança — é um espelho de que projeto de nação está sendo construído, e a quem ele serve. O nosso dever é fortalecer a auto-organização e construir os caminhos para desmantelar a lógica do sistema capitalista que coloca o extermínio como método de dominação e acúmulo de riquezas. Seguiremos em marcha até que todas sejamos livres!
Plúvia Oliveira é Gestora Ambiental, Militante da Marcha Mundial das Mulheres e Vereadora pelo PT de Mossoró/RN.