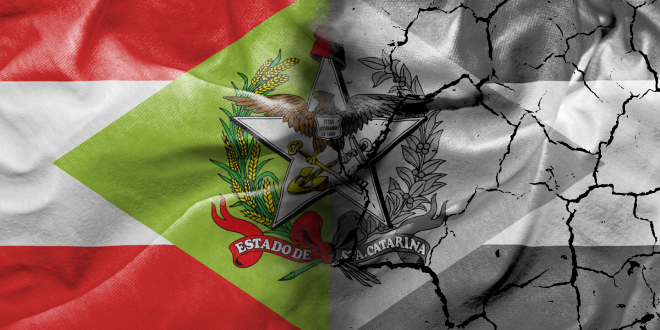Após marcha troll de Bolsonaro sobre São Paulo, democratas precisam isolar a direita lunática
O passado, em si, nunca volta, mas seus trovões e relâmpagos continuam a ressoar e a brilhar no tempo. No começo de 1932, Leon Trótski, então exilado na ilha de Prinkipo, perto de Istambul, publicou uma análise a respeito da situação alemã. Nela, advertiu sobre o perigo representado pelo Partido Nacional-Socialista, que havia obtido 18% dos votos nas eleições anteriores e jurava, quando lhe convinha, respeitar a Constituição.
Diante das dúvidas, em particular da socialdemocracia (a maior bancada no Parlamento alemão), de se os nazistas passariam à ação violenta, Trótski escreveu: “Sob a capa da perspectiva constitucionalista, que adormece os adversários, Hitler quer conservar a possibilidade de dar o golpe no momento propício”.
Convicto do diagnóstico, o autor, em quem até Winston Churchill, a despeito das duríssimas críticas, reconhecia aguda inteligência, afirmava que o único remédio seria a formação de uma frente que reunisse comunistas e socialdemocratas, competidores figadais desde 1918, tendo entre eles nada menos que os cadáveres heroicos de Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht. Sem bloquear o avanço do nazismo, as organizações da classe trabalhadora, e com elas a República de Weimar, seriam desmanteladas, alertava o revolucionário russo.
No Brasil, quase um século depois, Jair Bolsonaro não é fascista, o governo já pertence à extrema direita e o putsch de 7 de Setembro pariu um ratinho domesticado. Por que, então, lembrar texto nonagenário, escrito em um dos piores invernos europeus? Para que trazer lembranças funestas a este fim de inverno cheio de sol e pacificado pelo pró-cônsul Michel Miguel Elias Temer Lulia?
Analogias entre épocas precisam ser tomadas cum grano salis. Nenhuma ligação ponto a ponto funciona para pensar conjunturas específicas – mas um elemento comum entre o quadro de antanho e o atual é a técnica utilizada por Bolsonaro para iludir os demais atores em cena.
Benito Mussolini, protagonista da Marcha sobre Roma, inventou uma espécie de bufonaria, depois adotada por Hitler, que, misturando deliberadamente o ridículo e o ameaçador, driblava a racionalidade por meio da qual opera a política comum. Em consequência, entender o quadro requeria doses extras de investimento intelectual. Trótski registra, por exemplo, que o Partido Comunista Italiano (PCI) “não discernia os traços particulares do fascismo” e, “exceto Gramsci” (outro excepcional analista), desconheceu que havia “um fenômeno novo que estava ainda em vias de se formar”.
Eis o problema. Bolsonaro faz parte de uma constelação global em desenvolvimento, que ninguém sabe aonde vai dar. Ela tem traços fascistas, mas não é a reedição do velho fascismo italiano e alemão. Por isso, proponho chamá-la, provisoriamente, de “autocratismo com viés fascista”. A fórmula, algo canhestra e que talvez precise ser modificada adiante, pretende contribuir para uma compreensão, que se revela urgente, do momento brasileiro.
Líderes autocráticos do século XXI perceberam que podiam utilizar as redes sociais para operar desde uma espécie de “role-playing game” permanente, no qual fantasia e realidade se misturam, confundindo tudo e todos. O filósofo Rodrigo Nunes explicou, em artigo na Folha de S. Paulo, como a alternative right, à qual Trump e Bolsonaro se aliaram, “descobriu as vantagens de assumir a posição de uma das figuras centrais da cultura contemporânea: o troll”. Para redigir este artigo, aprendi que “to troll”, na internet, é algo como jogar uma isca para pegar trouxas.
A chave para compreender a trollagem é que ela busca “introduzir ideias ‘polêmicas e ‘controversas’ no debate público de maneira irônica, humorística ou com certo distanciamento crítico, mantendo sempre a dúvida sobre o quanto ali é brincadeira ou para valer”, diz Nunes.
Por isso, a questão sobre se há risco de golpe por parte de Bolsonaro não pode ser respondida de maneira unívoca. Trump “brincou” com a ideia de golpe até o último dia na Casa Branca. Como soava estapafúrdia no berço da democracia moderna, ninguém acreditou. Até que em 6 de janeiro de 2021, o presidente açulou hostes reunidas em Washington, entre as quais havia gente fantasiada de viking, contra o capitólio. Brincadeira ou tentativa golpista de verdade? Uma mistura fatal, pois, ocupado durante quatro horas, o Congresso dos Estados Unidos da América teve que ser defendido a tiros, custando cinco vidas.
Na linguagem corrente, a fagulha de imaginação totalitária que está produzindo tamanha confusão ficou conhecida como pós-verdade, palavra que ganhou foro internacional a partir de 2016, quando ocorreram o brexit e a vitória de Trump. Se, infelizmente, o palco global já se encontrava contaminado por narrativas inverossímeis, como, por exemplo, a de que existiam armas de destruição em massa no Iraque em 2003, a utilização organizada de invenções troll para mobilizar massas constituiu um salto, digno dos fenômenos patológicos anotados por Gramsci no seu Caderno do cárcere de 1930 para se referir ao fascismo.
A pós-verdade corresponde a uma comunicação em que os fatos são desconsiderados, em benefício de versões, não importa quão afastadas da realidade se encontrem. Partindo do princípio de que podem cometer distorções incomensuráveis, sem punição, as personagens pós-verídicas se dão ao direito de falar, literalmente, qualquer coisa. Fica implícito que o importante não é o que elas dizem, mas quem o diz, pois se trata, sempre e somente, de reforçar o próprio poder, começando por se garantir no centro do noticiário.
Como todo mecanismo socialmente efetivo, a pós-verdade se nutre de um aspecto central da existência humana: a não existência de objetividade absoluta. Em outras palavras, há sempre uma margem de incerteza a respeito do que acontece. Existem, contudo, aproximações razoáveis da verdade, isto é, graus de objetividade possíveis – como logo aprende qualquer jornalista sério e comprometido com a ética da profissão. Esse é um dos motivos pelos quais os autocratas travam uma guerra particular contra a imprensa informativa, que precisa lidar sistematicamente com padrões de objetividade e controle da mesma.
O repúdio à informação fidedigna é um traço do autocratismo em marcha, pois ele precisa distorcer os fatos até amalucar o público. Segundo Theodor W. Adorno, “os assim chamados movimentos de massa de estilo fascista possuem uma relação bastante profunda com os sistemas delirantes”.
A Escola de Frankfurt percebeu que, embora a raiz do fascismo se encontrasse no modo de produção capitalista, a sua efetividade enquanto movimento político dependia de atingir traços inconscientes dos indivíduos. A hábil propaganda nazista ativava um desejo profundo de punir bodes expiatórios, canalizando contra eles uma raiva que advém do andamento da sociedade, sentido como adverso e perigoso.
Envolvidos por essa publicidade enlouquecedora, poder-se-ia imaginar, de maneira bem simplificada, que os aderentes a Bolsonaro acreditam fazer parte de um povo oprimido, cuja “liberdade” está ameaçada por uma coalizão que vai de Lula ao Supremo Tribunal Federal (STF), passando pela China e a Faria Lima.
É uma visão sem pé nem cabeça, uma vez que tal coalizão inexiste e as forças mencionadas são alheias umas às outras, quando não contrapostas. Ao contrário: quem quer acabar com a liberdade é o bolsonarismo, que pede intervenção militar para estabelecer uma ditadura no país. No entanto, internalizado o delírio, resulta inútil tentar o esclarecimento.
Aí o perigo representado pelo 7 de Setembro de 2021, a primeira ocasião em que o autocratismo de viés fascista demonstrou capacidade de mobilizar massas no Brasil. Para elas, a “prova” de autoritarismo do “sistema” Lula-China-Faria Lima-STF estaria nas prisões determinadas pelo ministro do Supremo Alexandre de Moraes.
A mais importante detenção atingiu o ex-deputado Roberto Jefferson, presidente do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), em meados de agosto. Jefferson foi preso porque, em linguagem desabrida e postagens nas quais aparecia armado, pedia que as Forças Armadas apoiassem uma intervenção no STF, além de ameaçar que “se não houver voto impresso (…), não haverá eleição ano que vem”. Trollagem?
Desse ponto de vista, a comemoração inaugurada no Dia da Pátria não foi a dos dois séculos da Independência do Brasil e sim a do centenário da Marcha sobre Roma, que, em outubro de 1922, reuniu fascistas de toda a Itália para pressionar, com sucesso, o rei Vitor Emanuel 3º a nomear Mussolini primeiro-ministro. Com a significativa diferença de que a marcha troll sobre São Paulo foi apenas o começo de um ciclo de mobilização contra o pleito do ano que vem.
Logo após insuflar os seguidores à desobediência civil, Bolsonaro aparentemente recuou, dizendo respeitar a Constituição. O fascismo inventou, também, um modo sibilino, adotado pelos líderes autocráticos atuais, de naturalizar a ruptura com o Estado de Direito. O escritor Stefan Zweig sintetizou como funcionava o método hitleriano. “Uma dose de cada vez, e depois de cada dose uma pequena pausa. Sempre só um comprimido e depois esperar um pouco para verificar se não era forte demais, se a consciência do mundo tolerava essa dose.”
Trump e Bolsonaro utilizam, consciente ou inconscientemente, o arsenal forjado um século atrás. Diferente do fascismo histórico, os autocratas de hoje não têm, até aqui, o objetivo central de conter um movimento operário de esquerda ou promover um expansionismo bélico, ambos característicos do quadro após a Primeira Guerra. Porém, colocam em marcha artifícios de efeitos semelhantes.
Forças auxiliares aos autocratas contribuem para abafar a “consciência do mundo” e naturalizar a corrosão democrática. Em geral, esses aliados ocasionais pensam estar diante de algo bizarro e, portanto, passageiro, do qual podem se utilizar e, depois, descartar. Talvez seja o caso dos militares brasileiros, os quais mantêm uma assustadora ambiguidade a respeito do ocupante do Planalto. De um lado, participam ativa e abertamente do mandato, a ponto de não se ter certeza se este é do presidente ou dos fardados. De outro, parecem avalizar nos bastidores que os grupos mais enlouquecidos da galeria manicomial bolsonarista sejam reprimidos pelo STF. Para maior “tranquilidade” do establishment civilizado, sempre que consultados em off, oficiais da ativa mandam dizer que não aderem a aventuras.
A mesma dubiedade pode ser observada por parte do centrão, parcela decisiva do Congresso Nacional. De uma parte, sustenta Bolsonaro, com o presidente da Câmara dos Deputados bloqueando de maneira decidida os pedidos de impeachment contra ele. De outra, recusa a aprovação do voto impresso, que instrumentaria o mandatário a melar o pleito de 2022. Lembra, nisso, o Partido Republicano dos EUA, que derrotou o impeachment de Trump no Senado, mas não aceitou participar do putsch viking contra a diplomação de Biden.
Oscilação semelhante se observa no meio burguês. Enquanto parcela do grande capital sinaliza estar contra Bolsonaro – lugar que os seus correspondentes americanos também ocuparam em relação a Trump –, fatias do agrobusiness, do setor dos serviços e da pequena e média empresa seguem simpáticas ao bolsonarismo. A guerra de manifestos empresariais ocorrida há poucas semanas o demonstra.
Hannah Arendt conta que a burguesia alemã pretendeu instrumentalizar Hitler. Quando se deu conta de que ocorria o inverso, era tarde demais. Quando, afinal, será “tarde demais” aqui? Para essa pergunta de US$ 1 milhão não há resposta.
O autoritarismo furtivo, bem descrito por Adam Przeworski, vai erodindo a democracia aos poucos, sem rupturas definitivas. É um processo “devagar e sempre”, em que a erosão, conduzida por governantes eleitos, ocorre bastante por dentro das leis e é cheia de vaivéns. Usa as brechas disponíveis para restringir a liberdade de expressão, mudar a composição de organismos judiciários, alterar regras do sistema eleitoral, desorganizar o Estado, proibir ou dificultar associações, atemorizar oposicionistas, vigiá-los, processá-los, prendê-los, agredi-los fisicamente etc.
Quando se faz escândalo, retrocedem. Depois, recomeçam. O “golpe” de Trump consistiu em pressionar as instituições – primeiro as juntas apuradoras e depois o Congresso – a reconhecer que teria havido fraude na eleição, e ele seria o real vencedor. Não conseguindo, cedeu terreno, mas mesmo fora da Presidência não desistiu.
Por isso, a sociedade não deve correr riscos. A oposição democrática precisa usar qualquer espaço disponível para resistir, emparedar e reduzir o autocratismo a uma franja lunática e isolada.
Na Hungria, onde a autocracia de Viktor Orbán, há mais de uma década no poder, avançou a ponto de o Parlamento Europeu denunciar “risco claro de violação grave de valores”, a oposição de centro-esquerda venceu as eleições em Budapeste em 2019, derrotando o partido oficial. Na Turquia, em relação à qual o Parlamento Europeu declarou-se “empenhado em incluir a condicionalidade democrática”, protestos estudantis no começo de 2021 derrubaram o reitor indicado pelo presidente Recep Tayyip Erdogan para a principal universidade do país.
No Brasil, o melhor meio de barrar o autocratismo seria o impeachment de Bolsonaro. Para tanto, é indispensável criar uma unidade ativa entre forças de esquerda, centro e direita, que de resto possuem visões antagônicas de como dirigir a nação caso o presidente seja impedido.
De imediato, portanto, o passo necessário é o mútuo reconhecimento das profundas diferenças que dividem essa possível frente democrática, sobretudo no que diz respeito ao programa econômico. Sem legitimar as distinções, a confiança recíproca não se estabelece, e o entusiasmo se esvai.
O segundo momento seria determinar com clareza quais são os pontos unificadores, fora dos quais é garantida a todas as correntes a liberdade de seguir com os respectivos pontos de vista, a serem disputados democraticamente nas eleições.
“Cada organização continua sob sua própria bandeira e direção. Cada organização observa na ação a disciplina da frente única”, recomendava Trótski desde o observatório turco. A despeito de outras controvérsias que envolvem o personagem, convém meditar sobre um dos momentos da história em que acertou em cheio.
- André Singer é professor titular de ciência política da USP. Autor, entre outros livros, de Os sentidos do lulismo (Companhia das Letras).
Publicado originalmente no caderno Ilustríssima do jornal Folha de S. Paulo, em 19 de setembro de 2021.
A versão publicada aqui é da a terra é redonda