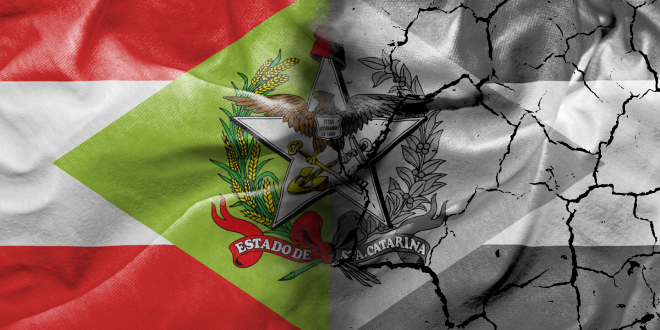Por Juarez Guimarães, na Carta Maior *
Por Juarez Guimarães, na Carta Maior *
Quando em 1989, data do bi-centenário da revolução francesa, instalou-se naquele país um debate público de altíssima voltagem intelectual e de disputa de valores sobre o significado histórico da revolução francesa. O fato de ter predominado a tese chamada de revisionista, liderada por François Furet, fazendo a crítica amalgamada do jacobinismo e do princípio da soberania popular de Rousseau, atualizando argumentos de Benjamin Constant e de Alexis de Tocqueville, identificando-os com o despotismo e o Terror, teve decerto conseqüências duradouras para a cultura política francesa contemporânea. Certamente, ao separar o princípio da liberdade dos princípios da igualdade e da fraternidade, esta interpretação da revolução francesa contribuiu de modo decisivo para conformar o quadro atual insidioso da cultura política francesa, com a sua deriva à direita, com a separação entre socialismo e republicanismo, inclusive com largos setores da classe operária, votando seguidamente na direita xenófoba e racista.
Com uma temporalidade menor e decerto com uma irradiação mais circunscrita – afinal a revolução francesa foi um evento central na formação do que chamamos de a modernidade republicana democrática – a reflexão pública sobre os 50 anos do golpe imperialista-burguês- militar pesará sobre a superação ou não dos impasses estruturais da democracia brasileira. Esta designação se impõe como mais precisa porque, com os novos documentos do Estado norte-americano, que vieram à luz comprovou-se que o imperialismo não apenas apoiou o golpe, mas teve um papel decisivo na sua ideação e organização; além disso, pesquisas do Ibope da época, recém divulgadas, demonstram que o governo Jango Goulart tinha o nítido apoio da maioria da população brasileira e os golpistas apenas tinham a maioria do apoio ativo entre os empresários e nos quartéis. Seria preciso, portanto, identificar a dimensão “burguesa” do golpe, não identificando-o incorretamente com uma presumida maioria de apoio “civil” da população.
Decerto ainda é dominante – tendo sido hegemônica por um curto e decisivo período, nos anos iniciais da transição conservadora – a narrativa liberal-conservadora da transição da ditadura militar para a democracia. Por esta narrativa, o golpe militar foi a resposta à crise de um regime chamado pejorativamente de populista, em um quadro polarizado além das instituições por forças de esquerda alheias senão incompatíveis com os valores da democracia. A conceituação da ditadura militar como um regime autoritário, operando em meio a uma institucionalização controlada, refletia a inserção da intelectualidade universitária brasileira em uma ciência política da transitologia, formada nas universidades norte-americanas, tendo em Fernando Henrique Cardoso o seu mais prestigioso e influente intelectual.
As contradições deste regime autoritário, herdeiro das tradições estatistas do varguismo e do nacional-desenvolvimentismo, eram pensadas a partir da oposição entre Estado e sociedade civil, entre, como dizia Fernando Henrique Cardoso, o “estado hegeliano de Brasília e a sociedade lockeana dos interesses de São Paulo”.
Daí pensar a transição para a democracia a partir de uma “frente da sociedade civil”, incluindo de modo decisivo os empresários nacionais e multinacionais engajados na campanha pela privatização e os próprios setores liberalizantes do regime. A transição para democracia, nesta narrativa liberal-conservadora, deveria ser negociada e eleger a estabilidade das novas instituições democráticas como o valor central, o qual deveria subordinar os outros, como os anseios represados por mais justiça, novos direitos e, principalmente, os valores da chamada Justiça de Transição. A transição, não a ruptura democrática com a ditadura, devera implicar uma transação.
A evidência da força contemporânea desta narrativa está na jurisprudência do Superior Tribunal Federal que legitimou, como definitiva, a Lei da Anistia promulgada pela ditadura militar que visou apagar os crimes imprescritíveis contra a humanidade e os direitos humanos cometidos durante a ditadura militar.
Se esta narrativa liberal-conservadora cumpriu e cumpre o papel histórico de soldar as visões de mundo liberal à conservadora, de uma certa tradição da intelectualidade da USP à consciência resignada dos quartéis, qual narrativa poderia soldar as visões de mundo dos socialistas, dos republicanos, e dos setores populares?
Seis visões e uma narrativa
Historicamente, as consciências socialistas brasileiras se dividiram ao narrar a história de 1964 e seu após. Houve quem contasse a história de 1964 como um fim inevitável e historicamente necessário de um ciclo chamado de populista ou nacional-desenvolvimentista, fruto de uma determinação econômico- estrutural (Imannuel Wallerstein), das contradições imanentes da aliança populista (Octávio Ianni) ou das injunções do modo de inserção do Brasil frente à dominação imperialista (em seu pluralismo, as teorias da dependência de Ruy Mauro Marini, Theotônio dos Santos e Andrew Gunther Franck). Houve quem centralizasse a explicação nas ilusões do PCB em uma revolução democrática-burguesa (Caio Prado Júnior) ou nas vacilações de Jango Goulart ( a consciência militarista de setores da esquerda brasileira no pós-64) ou ainda no não enraizamento e dispersão das estruturas organizativas do chamado populismo entre os trabalhadores e os setores populares ( Francisco Weffort). Já Wanderley Guilherme dos Santos, em sua tese de doutorado, depois editada com o nome de “1964: Anatomia da crise”, centralizava a explicação na paralisia decisória das instituições durante o governo Goulart, como expressão da polarização político partidária.
Em suas diferentes verdades parciais, estas diferentes respostas à pergunta – por que perdemos? – continuam a visitar a cultura socialista brasileira. A pergunta, então, é: será possível construir uma narrativa que nos unifique, em nosso pluralismo, e permita fazer a crítica da narrativa liberal-conservadora?
O que vamos expor em seguida é a estruturação desta narrativa, da qual extrairemos três teses solidárias.
O que propomos é a narrativa da republicanização – nos tempos longos e inacabados – do Brasil. Chamamos de republicanização , na linguagem da filosofia política que diferencia republicanismo de liberalismo – o processo histórico de constituição de cidadãos e cidadãs livres a partir do princípio da soberania popular e da construção universal de direitos e deveres simétricos – sem desigualdade estrutural – entre eles e elas. A republicanização sintetizaria, nesta perspectiva, a questão nacional (soberania) e social ( superação das desigualdades estruturais herdadas do colonialismo, do escravismo e da hiper-concentração fundiária) através da conquista e aprofundamento da democracia, pensada a partir da soberania do povo.
Através desta narrativa, entendemos 1964 como uma contra-revolução imperialista-burguesa e militar, que centralizou as classes dominantes externas e locais, no clima da guerra fria, para impor uma derrota histórica às forças políticas e sociais que lutavam pela republicanização do país. As reformas de base, com centralidade para a reforma agrária, que equivalia também a repensar as formas históricas da urbanização do país, e as reivindicações democráticas de votos para os analfabetos, da extensão do direito de sindicalização aos trabalhadores do campo, bem como a adoção de um pluralismo partidário irrestrito, permitindo a legalização dos partidos da esquerda, compunham esta agenda da republicanização. Os liberais brasileiros, mesmo os mais avançados, aderiram massivamente por cálculo ao golpe militar porque já não conseguiam fazer frente na disputa democrática a esta pressão de republicanização que iluminava a imaginação do país em obras magníficas de nossa cultura. O sertão , para retomar a imagem formadora de Antônio Conselheiro, iria virar mar e o mar virar sertão?
A razão de Florestan Fernandes
Sabemos que, ao contrário, nos 21 anos da ditadura militar o sertão virou mais sertão e o mar virou mais mar, no sentido do aprofundamento do subdesenvolvimento, como o definiria Celso Furtado, isto é, a desigualdade estrutural entre os brasileiros aprofundou-se em proporções inéditas na moderna sociedade capitalista brasileira.
Cremos que é somente através desta longa narrativa da republicanização que podemos bem compreender o clássico “A revolução burguesa” de Florestan Fernandes. Isto é, ao contrário da imaginação pecebista da “revolução democrático-burguesa”, a revolução burguesa aqui – retardatária, dependente e pressionada pelas classes trabalhadoras e populares – era autocrática e instalava no plano social o “circuito fechado” do poder e da riqueza. As formas modernas do capitalismo foram geradas e geridas pela ditadura em um sentido anti-reformas de base, isto é, anti-republicano.
Compreender isto é decisivo. Usando a linguagem de Gramsci, o “Estado fabrica o fabricante”. Isto é, a ditadura fabricou o moderno capitalismo brasileiro em suas dimensões estruturais, tal como o conhecemos hoje. Para ser mais preciso:
– a ditadura fundou o Banco Central e organizou as fusões bancárias que originaram os grandes bancos privados no país (não o capital financeiro, isto é, fusão entre grande capital e bancário, como nos ensinou Maria da Conceição Tavares);
– a ditadura cercou a reforma agrária por baixo e por cima, atingindo o campnêss e o latifundiário improdutivo, introduzindo a previdência rural e criando, através de financiamento massivo a fundo perdido pelo Banco do Brasil e pela criação da Embrapa, as bases do moderno agro-business brasileiro;
– a ditadura consolidou a opção não pública ou anti-republicana no setor dos meios de comunicação, investindo na formação da grande mídia concentrada e empresarial, em particular na Rede Globo;
– a ditadura utilizou a tradição corporativa dos direitos fragmentados na direção inversa de Vargas, isto é, para privatizar e vincular ao mercado a oferta de serviços na área da educação e da saúde, formando legal e historicamente o moderno mercado da saúde e da educação;
– a ditadura fez a associação funcional tripartite empresa multinacional-empresa estatal- grande empresa privada nacional, formando a moderna empresa capitalista no Brasil, de cuja base social emergiria , em outro período, a liderança histórica de Lula.
Enfim, a ditadura não apenas reprimiu o movimento histórico pela republicanização. Ela criou o moderno capitalismo brasileiro anti-republicano, isto é, com um viés autocrático e cioso da desigualdade estrutural de acesso aos direitos e deveres.
Transição conservadora e “teoria dos dois demônios”
A disputa e a transação política na transição da ditadura para a democracia se fez, em um primeiro momento no Colégio Eleitoral e, depois, em um Congresso Constituinte eleito segundo as regras do jogo definidas pela própria ditadura em seu ciclo final de auto-reformas. Não houve nem diretas já nem Assembléia constituinte Exclusiva e soberana, como reivindicavam as forças políticas mais interessadas e comprometidas com o aprofundamento da democracia. A morte de Tancredo Neves e a assunção de Sarney, ex-presidente do PDS, certamente acentuou as tendências continuistas na transição conservadora.
Esta transição conservadora trouxe três conseqüências anti-republicanas duradouras para a nova democracia.
A primeira delas foi a relegitimação dos atores políticos civis orgânicos fundamentais que criaram e nutriram a ditadura militar em sua longa temporalidade. Que estes atores tivessem direito de expressão e voto na nova democracia faz parte do pluralismo. Mas que passassem, assim, de uma condição a outra, de coveiros da democracia a co-autores de seu renascimento, isto é obra do transformismo liberal-conservador. Os “mortos-vivos” da ditadura atualizaram a sua legitimidade como os “vivos-mortos” da nova democracia, atualizando nela até hoje as suas razões e interesses anti-republicanos.
A segunda conseqüência anti-republicana duradoura foi o transporte para a nova democracia de instituições e leis amalgamadas em forças econômicas dominantes, criadas durante a ditadura militar. Aqui funcionou o mecanismo chamado na ciência política de veto-player: se não há mais força e legitimidade para ser maioria, formar coalizões para impor veto às decisões das maiorias.A Constituição de 1988 foi, por excelência, o terreno desta guerra de posições e manobras, na qual muitos direitos republicanos foram conquistados – em particular no capítulo dos direitos sociais e da cidadania ativa – mas cristalizaram-se o que se poderia chamar de impasses estruturais da republicanização do Brasil: o Banco central e seus poderes rentistas, o grande negócio no campo e seus vetos à reforma agrária, a semi-autarquia das Forças Armadas e a militarização da segurança pública, os quase-monopólios midiáticos e suas interdições aos direitos democráticos de comunicação pública, os poderes do grande capital e seus vetos a uma estrutura tributária progressiva ou à democracia no local de trabalho.
Em terceiro lugar, o circuito da auto-reforma se fechou com a manutenção de uma estrutura legal e institucional de eleições, partidos e sistema de representação, na qual as energias transformadoras da soberania popular deveriam ser represadas pelas distorções da representação e pela concorrência eleitoral de tipo americano, isto é, fortemente assentada na força do dinheiro e dos lobbies de interesse das grandes corporações. Todas estas três heranças duradouras da ditadura militar na nova democracia brasileira atualizavam não apenas os bloqueios a uma distribuição de renda como também a formação dos direitos das mulheres e dos negros vitimados pela moral conservadora e pelo racismo, atualizado na cultura brasileira pelas culturas da apartação liberal-conservadoras.
A “teoria dos dois demônios “, liberal-conservadora, ao proteger a nova democracia da “esquerda anti-democrática” e dos “militares golpistas”, estendendo o manto de perdão a seus erros históricos, havia feito o seu trabalho. Mas, com ele, renovaram-se os impasses históricos da republicanização na nova democracia.
A chegada ao Brasil do neoliberalismo, de modo trânsfuga por Collor e depois solidamente programatizado por Fernando Henrique Cardoso, criaria um novo pacto histórico entre liberais e conservadores, desta vez atando não autocracia e mercado mas as teorias elitistas da democracia aos novos imperativos da globalização financeira. Aí já entramos na cena contemporânea da democracia brasileira.
A Justiça de Transição e o exorcismo da “teoria dos dois demônios”
Afirmadas estas duas teses analíticas – o entendimento da ditadura militar como uma contra-revolução republicana e a transição conservadora como a maximização dos vetores anti-republicanos para a nova democracia – terminamos este ensaio com uma tese normativa. A cultura da Justiça de transição é necessária para construir na democracia brasileira contemporânea as condições de superação dos impasses à plena republicanização do país.
O fundamento da Justiça de Transição é justamente o direito republicano dos povos a resistir, pelos meios necessários, inclusive a violência, aos regimes despóticos ou tirânicos. Este direito republicano de resistência foi firmado claramente nas revoluções fundadoras da Modernidade por John Milton (“Em defesa do povo inglês” de 1651, no qual justificava o julgamento e o enforcamento do rei despótico), Por Thomas Paine ( em “Senso comum” e “Os direitos do homem”, editados em favor da luta dos revolucionários norte-americanos contra os opressores ingleses) e por Rousseau ( em “Contrato social”, onde firma o direito e até o dever de lutar contra os Estados ilegítimos, baseados na força e não no princípio da soberania popular).
No estado brasileiro contemporâneo, a cultura e as ações da Justiça de Transição estão sendo ativadas e desenvolvidas pelo Comitê Brasileiro de Anistia, vinculado ao Ministério da Justiça, e pela Comissão da Verdade. Elas incidem potencialmente sobre cinco questões decisivas, que compõem a agenda da Justiça de Transição: o direito à memória, o direito à verdade, o direito à reparação dos que foram vítimas ou vitimados pela ditadura militar, o direito de julgar e condenar, através do devido processo legal, os crimes contra a humanidade e a reforma cidadã das leis e instituições repressivas criadas pela ditadura militar.
Se antes falamos dos mortos-vivos da ditadura militar na democracia brasileira, é hora de chamar aqui a presença dos personagens ausentes da democracia brasileira e que foram assassinados pela ditadura militar. O povo de Salvador deu um grande exemplo ao povo brasileiro ao nomear um colégio estadual de ensino de Carlos Mariguella ao invés de se chamar fulano de tal da ditadura militar (Emílio Garrastazu Médici). A república democrática se constrói nomeando e honrando os filhos da liberdade. Assim, como fizemos de Zumbi dos Palmares e de Tiradentes, símbolos permanentes de nosso amor à liberdade, façamos agora dos que morreram lutando contra a ditadura os heróis cívicos da república democrática brasileira que resta ainda a construir.
(*) Juarez Guimarães é professor de Ciência Política da UFMG, pós-doutorado em Filosofia na USP, e pesquisador do Centro de Estudos Republicanos Brasileiros (Cerbras)
FOTO: Ciquenta anos do golpe civil-militar de 1964 foram lembrados em São Paulo nesta segunda-feira, dia 31 (Paulo Pinto/Fotos Públicas)