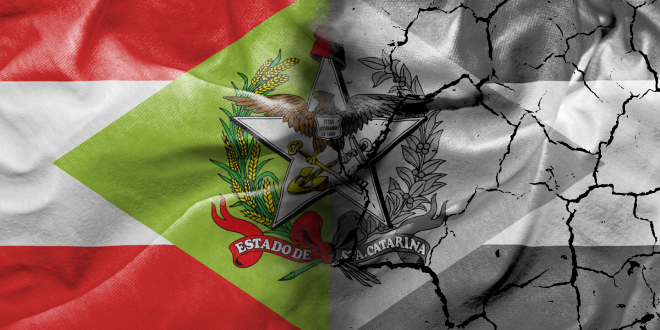Se a História se repetisse, o destino estaria traçado.
A abulia da democracia tem condições para
se ampliar, transformando-se numa nova forma
de política. É o abismo do nosso tempo
Em julho de 2017, mas foi só mais um episódio de uma lista já entediante, o presidente norte-coreano Kim Jong-un confirmou o lançamento de um míssil. Como era o dia da comemoração da independência dos EUA, dedicou o evento aos “bastardos americanos”, para que “saíssem do tédio”, e ao seu presidente, o “demónio nuclear” e “cão raivoso”. Trump respondeu com um tuíte amável: “Porque é que Kim Jong-un me insulta chamando-me ‘velho’, se eu NUNCA lhe chamaria ‘pequeno’ e ‘gordo’? Ora bem, eu tento tanto ser seu amigo – e talvez um dia isso aconteça!”. Aconteceu, mas isso até nos será razoavelmente indiferente, dado sabermos que se podem abraçar numa manhã como continuar estes jogos florais com ameaças tonitruantes nessa tarde. E depois a saga continuou: que sou um “supergénio”, que os cientistas “ficam espantados por eu saber tanto sobre o vírus” (por ter um dia conversado com um tio professor universitário, que morreu há trinta e cinco anos), que “pedi aos meus que testassem menos”, e é só uma amostra. Podemos tratar esta enxurrada como nos fosse alheia, nada mais do que um recreio banal, entre tantos outros de um universo sem bússola, promovido por um presidente que tem feito milhares de tuítes deste jaez durante o mandato. Mas talvez seja tempo de levar a sério a charada e de enfrentar a questão mais difícil: terá Trump sido eleito apesar desta prosápia, ou graças a ela?
Tenho vivido essa perplexidade, como porventura alguma outra pessoa que lê esta Revista: como compreender que o cargo político mais poderoso do mundo seja ocupado por alguém que não só parece tão despreparado para o cargo como exibe com volúpia a sua imaturidade? Será então que sublinhar a farsa é uma forma calculista de mascarar o seu sentido? Ou será até que apontar o ridículo do rei que vai nu é nada menos do que um incentivo aos seus apoiantes para o adorarem? Deve então constatar-se o óbvio, sob risco de favorecer a encenação, ou ignorá-lo, podendo assim consagrar o seu sucesso? A minha resposta é que se trata aqui de uma tecnologia política, que fabricou os seus atores naturais, uma nova espécie de animal social, e que, nesta era tempestuosa, essa é uma outra forma de mandar.
O que discuto neste ensaio é como se gerou este poder e como vai triunfando o seu discurso, que enuncia uma nova ordem das coisas: com os seus protagonistas esparvoados e a poluição intensiva do espaço público, maquinando um frenesim que tende a formar uma comunicação sem comunidade, o que aqui se manifesta é uma bufonaria. A sua voz grotesca é uma forma de poder na sociedade do medo e, no contexto de uma pandemia que se agiganta, revela-se que o preço desta política é que o país mais poderoso do mundo tem caminhado para se tornar um Estado falhado, incapaz de responder a uma emergência sanitária grave. Sugiro ainda que, apesar do desastre a que estamos a assistir ou até por causa dele, a geração e operação desta abulia da democracia tem condições para se ampliar, transformando-se numa nova forma de política, seguindo a perigosa canção do bufão. É o abismo do nosso tempo.
A técnica do bufão
Na Antiguidade, no Egipto ou em Roma, ou ao longo do tempo até pelo menos aos palácios seiscentistas, um criado ou protegido teria a sorte de ser bobo da corte. Juiz e carrasco das palavras, o bobo que tivesse o engenho de se fazer estimado pelo rei e temido pelos nobres, ainda que por eles desprezado, poderia até ser premiado com o estatuto de fidalgote, assim aconteceu alguma vez. Sucesso e insucesso dependeria da palavra repentista ou da exibição da toleima, desde que a bobice ficasse no campo da fantasia: mesmo quando o bobo fosse a única voz autêntica nos corredores das intrigas, seria quem diz a verdade que não conhece, para ser escutado por toda a gente e compreendido por ninguém. No enredo da corte, o bobo era o profeta inocente, pois não tinha outra arenga que não fosse a da sua bobagem. “Os que falam de mim dizem que sou pobre de espírito; talvez nem tenha espírito. Existo como um fruto, um copo de vinho, uma árvore”, diz um bobo n’ “O Tempo, Esse Grande Escultor”, de Marguerite Yourcenar.
No entanto, ouvir a graça do bobo não era privilégio só restrito aos nobres. Havia uma procura social para o entretenimento e o seu correspondente popular, o bufão, andava de feira em feira com as suas lendas e canções. O burlesco, que na esfera do poder era uma linguagem cifrada, passava a ser distração e aprendizagem na cultura popular. Nessa representação, o bufão obedecia a um poder, dado que criava e reproduzia mitos e era, desse modo, um instrumento de hegemonia. A palavra contava já não só como diversão mas também como informação. Ao descer do castelo para a choupana, o bufão passou a ser um comunicante social, como o padre ou o monge, talvez mais itinerante e mais frágil. Ainda assim, era uma peça menor da linguagem do poder, o seu teatro seria uma repetição de quimeras, oferecendo devaneios e a encenação de versões farsescas da vida do paço. De facto, o bufão repetia nas praças a ordem estabelecida das coisas, mesmo que nisso pudesse surgir uma centelha de rebeldia. E, pelo menos num momento de festa, o povo podia imitá-lo, desviando a religiosidade para uma comemoração iconoclasta, era o Carnaval. A máscara do bobo, que permitia ao sarcasmo escarnecer da hierarquia, era usada então por toda a gente.
Chegados ao nosso tempo, o entretenimento foi industrializado e a diversão foi domesticada. Os seus produtores e artistas são empresários e proletários que produzem e reproduzem objetos culturais vendidos num mercado, quando alcançam a glória e escapam às agruras do artesanato. O bufão, tocador de sete instrumentos, deveria ter-se extinguido nesse mercado, onde não parece ter lugar. O seu tempo passou. O que dele resta foi capturado em tristes programas de televisão que pegam em pessoas desconhecidas ou estrelas decrépitas para fazerem bobagens.
No entanto, nasceu entretanto uma outra espécie de bufão, que se reinventou na vida política, ou seja, descobrimos que ascendeu ao centro do poder. Pelo menos, essa é a tese de um conservador norte-americano, Prémio Pulitzer, de seu nome George Will, que escreve no Washington Post. Will, um dos republicanos que recusou apoiar Trump em 2016, não foram muitos, voltou agora à carga contra o presidente para anunciar o seu “nojo” por este “bufão maléfico”. O argumento é conhecido, o milionário faz da Casa Branca uma carreira empresarial, para tanto orquestrando o ressentimento que toma como alvos as mulheres, os latinos ou os negros, namorando o supremacismo branco ou os fantasmas da Guerra Civil do século XIX. Ora, se o “maléfico” se reporta a essa descrição do seu mandato, o que significa aqui o “bufão”? É o que me interessa, porque é precisamente o sinal de vitória desta política: a resposta é que só por via da bufonaria ela se pode afirmar. Aquilo que Will usa para enunciar a inaptidão de Trump é precisamente a explicação do seu sucesso. E isso é um problema, não estamos acostumados a esta inversão da racionalidade, deste labirinto não conhecemos as portas.
Christian Salmon, um ensaísta francês que publicou em 2019 um livro sobre as novas fraturas no sujeito político, A Era do Clash, chama a essa inversão a tirania dos bufões. Não se está portanto a referir a uma extravagância, mas sim a um regime, não é um evento curioso, é uma regra. Numa crónica recente sobre essa ordem, explica-a com base no curso que Michel Foucault deu no Collège de France no ano letivo de 1974-5, que entitulou Os Anormais. Foucault era já um filósofo consagrado, talvez o mais perspicaz dos anatomistas do seu tempo no estudo da fisiologia do poder, pois olhou para o maior como para o menor, para os discursos e para as instituições. Em janeiro de 1975, na primeira lição do curso, numa quarta-feira como de rotina, apresentou aos estudantes um conjunto de textos de psiquiatras convocados como peritos em processos penais e que, perante o tribunal, teriam usado o seu poder para definir atitudes, propensões ou situações que explicariam o crime ou a sua circunstância. Um acusado tem um “aspeto efeminado”, outro é “imoral”, ou “particularmente repugnante”, outro ainda formula “juízos sem rigor”, escrevem os peritos. Os seus depoimentos são povoados de insinuações cujo valor parece ser nulo ou até anedótico, não fora o lugar de autoridade que reclamam e estabelecem. O facto é que os relatores usaram o seu estatuto de sábios ou o medo do anormal para afirmarem a sua conclusão-sentença com base em alegações excêntricas. E é por aí que começa esta dissecação do poder por Foucault.
Para o filósofo, os peritos desqualificavam-se ao exercerem este poder arbitrário da classificação. Assim, para convir ao tribunal, falsificavam as normas do seu trabalho e criavam uma pantomina. É o simples poder do grotesco, explicou Foucault, em que o especialista apresenta a sua própria desqualificação como prova da sua soberania: “A soberania grotesca opera não apesar da incompetência de quem a exerça, mas precisamente em função desta incompetência e dos efeitos grotescos que dela decorrem (…). Chamo grotesco ao facto de que, dado o seu estatuto, um discurso ou um indivíduo podem ter efeitos de poder que as suas qualidades intrínsecas deviam desqualificar”. E batizou isto de “terror ubuesco”.
Ubu Rei
A peça teatral “Ubu Rei” foi criada e encenada em 1896 por Alfred Jarry, tinha este 23 anos, num teatro de Paris. Só resistiu uma segunda noite, o tumulto na sala inviabilizou a continuação. O texto é um puzzle de referências, nele abunda Macbeth, Ricardo III e outras obras de Shakespeare, compondo um retrato do poder grotesco. Ubu chega ao trono da Polónia (ou de um terra chamada Lugar Nenhum, pode ser onde nos encontramos, explica o autor) através do assassinato do rei, motivado pela sua ambição de comer chouriço mais frequentemente e de usar um guarda-chuva. O novo rei mata os nobres para lhes confiscar os bens, determina que os juízes passem a viver de esmolas, sobe os impostos para confiscar metade da receita e exerce a autoridade da forma mais arbitrária. O poder é um instrumento de autogratificação sem normas nem sentido, até Ubu ser derrubado e empreender a fuga com a esposa, que o tentara roubar (fugiram para França, Jarry não perdeu a oportunidade de marcar a sua posição).
Fala Foucault: “Chamarei de ‘grotesco’ o facto, para um discurso ou para um indivíduo, de deter por estatuto efeitos de poder de que sua qualidade intrínseca deveria privá-los. O grotesco, ou se quiserem, o ‘ubuesco’, não é simplesmente uma categoria de injúrias, não é um epíteto injurioso, e eu não queria empregá-lo nesse sentido”. Continua: “dever-se-ia definir uma categoria de análise histórico-política que seria a categoria do grotesco ou do ubuesco. O terror ubuesco, a soberania grotesca ou, em termos mais austeros, a maximização dos efeitos do poder a partir da desqualificação de quem os produz: isso, creio eu, não é um acidente na história do poder, não é uma falha mecânica”. O Imperador Nero foi o exemplo de “soberania infame” citado por Foucault, mas sugeriu que se tratava somente de um precursor. Arianna Sforzini, que se dedica a estudar o autor, escreveu há três anos As Cenas da Verdade: Michel Foucault e o Teatro, em que repete que se trata de uma “categoria precisa de análise histórico-política”. Para ela, essa força que “o poder assume quando se reveste das formas mais bufonas e mais infames” é a chave para perceber o nosso tempo.
Voltemos a 1975. Na segunda aula do seu curso sobre “os anormais”, na quarta-feira seguinte, Foucault insistiu pela última vez no tema e explicou o uso da metáfora do Ubu Rei para descrever o psicólogo que era o perito daquele tribunal, identificando o padrão de exercício do seu poder: “o Ubu é o exercício do poder através da desqualificação explícita de quem o exerce; se o grotesco político é a anulação do detentor do poder pelo próprio ritual que manifesta esse poder e esse detentor, vocês hão de convir que o perito em psiquiatra, na verdade, não pode deixar de ser a própria personagem Ubu”. Mais uma vez, a artimanha está na consagração do poder de alguém através de um ritual que confirma a sua desqualificação. E, segundo ele, seria isso mesmo que estabeleceria a sua potência: o poder ubuesco mistura o infame e o ridículo e faz disso a sua força. “Ao mostrar explicitamente o poder como abjeto, infame, ubuesco ou simplesmente ridículo, trata-se de manifestar de forma mais expressiva o caráter incontornável, a inevitabilidade do poder, que pode precisamente funcionar em todo seu rigor e a um ponto extremo da sua racionalidade violenta, mesmo se está nas mãos de alguém que se encontra efetivamente desqualificado”, ou seja, não se trata de um acidente histórico. O poder ubuesco não é uma falha, é uma organização; o seu chefe não está no poder apesar de ser desqualificado, está no poder precisamente por isso mesmo e usa-o para reforçar o caráter único dessa desqualificação, exibindo-a e banalizando-a. Assim, é “a desqualificação que torna o detentor da majestas (…) ao mesmo tempo, na sua pessoa e na sua representação, (…) um personagem infame, grotesco, ridículo”. Portanto, “o grotesco é um dos procedimentos essenciais da soberania arbitrária”. Ou seja, bufonear é a linguagem do poder grotesco e é a chave do seu sucesso.
Personagens exaltados, a história está povoada deles. A pose grotesca é portanto uma constante secular. O poder económico e social foi frequentemente exercido por quem se apercebeu da possibilidade de gerar energia com esta exaltação. O embaixador britânico em Lisboa, em despacho para o seu ministério, chamava a Alfredo da Silva, dono da CUF e que casou a filha com um aristocrata decadente, Mello, fundando uma dinastia financeira dominante no Portugal salazarista, um “rufião pitoresco”, e outros capitães da indústria, governantes e aventureiros não o terão sido menos. Mas o poder ubuesco a que se refere Foucault é de outra estirpe, é um modo de comunicação subordinante, é uma hegemonia, é uma “categoria precisa de análise histórico-política”.
Nessa percepção, Foucault foi talvez o mais kafkiano dos filósofos contemporâneos, mas inverteu o sentido da tragédia: em Kafka o poder é uma sombra pesada que nos engole (O Processo) ou a que chegamos e de onde não saímos (O Castelo), mas é sempre incompreensível; para Foucault, em contrapartida, o sistema é legível, o grotesco é uma representação que estipula um poder efetivo, incluindo o da infâmia. Mesmo quando o terror ubuesco se precipita contra nós, podemos intuí-lo. É o momento de o compreender.
O poder grotesco
Carter Goodrich é um consagrado diretor de arte no cinema (conhecem-lo do Shrek, do Gru, do À Procura de Nemo ou do Hotel Transilvânia) e também ilustrador notável, muitas vezes responsável pela capa da New Yorker. Em outubro de 2017, desenhou Trump como um palhaço perverso, que surge detrás de uma árvore para nos atormentar, como nos filmes de terror. Estava-se nos primeiros meses do seu mandato e ainda pouco se conhecia do vencedor inesperado. Mas Goodrich, assustado, explicava que “é difícil parodiar este homem, ele já anda e fala como uma caricatura de si próprio”. Isto é a essência do poder grotesco.

capa da New Yorker, 30/10/2017
O grotesco, neste caso, talvez até seja mal representado pela caricatura, não se trata de um ente fantasmagórico, mas antes do homem mais poderoso do mundo. Mas é grotesco porque exerce esse poder exibindo a sua displicência, uma garotice irremediável, na medida em que a banalidade do estapafúrdio instala o sistema de comunicação em que o bufão se reconhece e que cultiva. Mesmo que, como argumentou Foucault, o perito, ou o chefe, tenha que frisar a sua desqualificação para o cargo como condição para o exercer, a bufonaria seria ainda assim o exercício de uma pulsão narcísica, mas de um narcisismo arrevesado: Trump não quer ser amado (ou não quer ser sempre amado por todos, eventualmente com a excepção dos adversários ou aliados de circunstância que mais teme, como Kim Jong-un ou Putin), antes quer polarizar um campo de inimigos, prefere a gritaria a ser ignorado. Bufonear é uma operação narcísica que pretende o máximo de exposição com o máximo de controvérsia, pois nasce do desejo de ocupar totalitariamente o espaço público, mas não é um simples exercício de espelho. É uma atitude, é uma inundação e, por isso, esta estratégia recorre ao burlesco, que se torna uma segunda pele do personagem: “ele já anda e fala como uma caricatura de si próprio”.
Antes de continuar, uma prevenção: se o grotesco e a bufonaria se tornam visíveis, foi para isso que foram inventados, são ainda assim uma estratégia de poder e não unicamente uma recreação da vaidade. Como em todas as formas de poder, também aqui há uma representação de interesses sociais, numa química complexa que, se altera a pose tradicional da ordem burguesa, e por isso os republicanos dinásticos detestam Trump, que acusam de não se saber comportar à mesa, tem constituído o modo de recuperar a iniciativa da oligarquia quando o seu modo de dominação está desgastado. Noutras épocas, foi o cesarismo, primeiro, e o bonapartismo, depois, que encarnaram essas soluções desesperadas, os populismos são os seus herdeiros. Agora, todas essas formas de domínio, o cesarismo, o bonapartismo, o populismo, o arbítrio ubuesco, se fundem no exercício de bufonaria.
Salmon também lembra no seu texto que o grotesco não foi inventado hoje e que, no passado recente, Hitler e Mussolini criaram estéticas que dele se serviram à exaustão. Mas queriam ser temidos e respeitados como pilares do tempo, para tanto evocavam uma Antiguidade solene. Usaram por isso a figuração imperial, transformaram a saudação romana no gesto fascista, fardaram as milícias e, logo que puderam, encenaram a parada militar e a arquitetura majestosa como montras do poder. Tiveram portanto a ambição de erguer o populismo na sua forma pura, a de uma relação direta entre o chefe e o povo, couraçada de pavor e armas, vestida de religiosidade e de discurso milenarista, prometendo um Reich por mil anos, e assim justificaram a guerra, a forma estética suprema que concebiam. “Glorificaremos a guerra, a única higiene do mundo”, escrevia o poeta futurista Marinetti.
É de notar, como Salmon o faz, que foi precisamente esta mistura entre este classicismo kitsch e o seu pulsar genocida que desde cedo se tornou o alvo da desmontagem da majestade ubuesca. Chaplin, com o Grande Ditador, logo em 1940, estavam as tropas nazis a entrar em Paris, logo no início da calamidade, usou o burlesco para denunciar Hitler. Brecht, no ano seguinte, escreveu A Irresistível Ascensão de Arturo Ui (mas só foi representada em 1958, já depois da sua morte), a história de um gangster de Chicago que disputa o controlo do mercado da couve flor, também evocando Macbeth e Ricardo III, como Jarry o fizera décadas antes, e satirizando as ditaduras europeias. Ou seja, alguns dos críticos contemporâneos usaram a estetização e sacralidade do fascismo para lhe oporem a humanidade, o barbeiro Schultz contra o ditador, como em Chaplin, ou para simularem as intrigas mesquinhas entre os chefes militares, como em Brecht.
Será menor ou maior o poder do grotesco nos dias de hoje e, portanto, será que o humor chaplinesco ou a denúncia brechtiana nos decifrarão o terror ubuesco? A resposta mais prudente é que os tempos são incomparáveis. A história não se reencena. A analogia é mesmo uma armadilha, em que ficamos viciados, sobretudo se só conhecermos o presente pelo que lembramos do passado, além de que a comparação encerra um prognóstico derrotista: se a história se repetisse, o destino estaria traçado. Pelo contrário, se o poder absoluto só não se pode sentar sobre a baioneta, como recordava Napoleão, e por isso deve proteger a coerção fabricando um véu de assentimento, esta nova forma de exercício de hegemonia, que é a bufaneidade, deve mobilizar recursos intensivos e permanentemente renovados, visto que se baseia numa crença que deve ser multiplicada para consagrar uma devoção. É uma nova linguagem de poder, nunca se viu nada parecido. É o que é surpreendente que temos que compreender, essa “nova categoria da análise histórica e política”.
O que é novo é, em primeiro lugar, a sociedade do medo, uma forma de dominação pela subjugação dos instintos. É uma política pós-maquiavélica, o soberano já não escolhe entre ser amado e ser temido, pretende ser amado por ser temido e ser temido por ser grotesco, ou arbitrariamente ubuesco. Em segundo lugar, o bufão tem que se reinventar numa representação infindável, para conseguir ser o zénite da atenção. Não precisa por isso de coerência, antes a abomina, pelo que apontar as suas contradições, os desmentidos, a volubilidade das alianças, a contradança flutuante das suas propostas, pouco atinge o seu estatuto entre os zelotas, dado que o seu lugar é precisamente o do capricho absoluto. O chefe deve ser inconstante, deve surpreender, não deve sequer ser compreendido, deve ser adorado, não aspira a ser reconhecido pela inteligência, mas pela boçalidade. Os seguidores de Jair Bolsonaro, que não é a figura mais grandiosa desta galeria de tiranetes, gritam por ele chamando-lhe “mito”, o que diz tudo sobre a linguagem que aqui é enunciada. O seu ministro da segurança, um pastor evangélico, chama ao chefe “profeta”, o que convoca um sentido bíblico que criou algum desagrado entre um ou outro devoto, mas que funciona como uma reivindicação de transcendência que não surpreenderá. Como se nota, este modo de hipérbole da linguagem é, ele próprio, uma forma de bufanice.
Deste modo, depois das grandes narrativas, cujo óbito pode ser uma notícia ligeiramente exagerada, e do pastiche pós-moderno que se lhe seguiu, chegou o tempo do burlesco. Notar-se-á que a política se vai reduzindo assim ao manto da farsa, que a verdade se torna uma partida de poder e que a infâmia explora a descredibilização da democracia. No entanto, não se conclua que tudo é só representação. Sobram os poderes de sempre, as soberanias irredutíveis, o poder faraónico da desigualdade, o controlo da comunicação, o abismo do ódio social aos de baixo. “A questão é, como sempre, quem manda”, dizia o sensato Humpty Dumpty. O que mudou é a forma da imposição da hegemonia, já não através de uma história credível, protegida por uma multidão de arautos e de ideólogos, mas antes por via de um efeito de enxurrada. Talvez Trump, melhor do que todos os outros heróis deste balcão de bufanismo, tenha sido o exemplo do sucesso desse tipo de tecnologia de infoxicação.
Os partidos algoritmo
Num livro publicado há um par de meses, Active Measures, Thomas Rid, académico britânico especializado em cibersegurança, descreve as operações da CIA para desestabilizar o bloco de leste durante a Guerra Fria. Conta ele que, em 1951, eram lançados por mês quinze mil balões com propaganda sobre a Alemanha de Leste, a partir de três bases dedicadas ao projeto; em 1957, a CIA teria impresso 855 mil panfletos reais e forjados, publicaria diversas revistas orientadas para a luta ideológica, incluindo uma de jazz, e teria mesmo um serviço para enviar horóscopos pessoais para membros da Stasi para os atemorizar, além de usar frequentemente jornalistas para espalhar contra informação. Segundo o autor, os serviços da Alemanha oriental e da URSS teriam sido ainda mais eficazes neste tipo de operações e tê-las-ão prosseguido por mais tempo.
A esta distância no tempo, podemos em todo o caso perguntar se tais estratégias terão resultado. A sua ingenuidade é quase divertida, era o que havia então. Provavelmente, foi muito barulho para nada. Mas, nesta poluição por sinais obsessivos, não haveria nenhuma intuição? Havia uma confirmação, pelo menos: o poder sustenta-se, como se combate, com informação. Se assim for, pode então ser em alguma medida transformado por ela.
Em tempos mais contemporâneos, vários governantes afirmaram-se por via do domínio de canais de informação (Berlusconi recebeu do primeiro ministro socialista Bettino Craxi a concessão de vários canais de televisão e ganhou depois o governo alçado nesse império). A televisão foi o modo de comunicação mais poderoso no passado recente, por conjugar todos os desejos – o entretenimento, a diversão, a distração, o erotismo, a imaginação, a aventura, a intriga, até a informação, tudo num suporte de imagem, que é o mais atrativo modo de envolvimento – numa época em que não havia redes sociais. Sem a Fox, o canal de informação por cabo mais visto nos EUA e dedicadamente militante, Trump não teria sequer chegado às primárias republicanas. Mas sem as redes não teria ganho as eleições. De facto, as redes podem produzir o mesmo tipo de efeito que a televisão, mas com duas modificações fundamentais que o ampliam: operam em regime de avalancha e, sendo universais, são dirigidas a cada participante, criando um simulacro de pertença e de participação que mobiliza a sua energia, levando a pessoa a deixar de se sentir o espetador passivo para se adivinhar como parte da divindade criadora do mundo. São, portanto, mais possantes, transferem a pessoa para dentro do écrã.
Este poder define uma fronteira de oportunidades e selecciona uma raça especial de operadores políticos. São os “engenheiros do caos”, para retomar a expressão de Giuliano da Empoli, a que me referi num ensaio anterior nesta Revista acerca da sociedade do medo: Donald Trump tem o seu Brad Parscale, Boris Johnson tem Dominic Cummings, Matteo Salvini tem Luca Morisi, Netanyahu e Orbán tiveram Arthur Finkelstein, Beppe Grillo teve Gianroberto Casaleggio, Jair Bolsonaro teve a mão amiga dos peritos de Netanyahu. Por detrás do líder está sempre o perito em comunicação nas redes, com a sua equipa de infoxicadores, os coronéis dos exércitos de robots que conduzem a mensagem. São esses os orquestradores dos novos mecanismos de reprodução, incluindo a transformação dos instrumentos políticos tradicionais, como os partidos, em algoritmos. O que importa a esta tecnologia de comunicação é a viralidade, é o foco da atenção, é a controvérsia, é não deixar folga para a respiração: o algoritmo busca mecanizar o sucesso deste efeito avalancha, criando uma realidade paralela que tem que ser alimentada torrencialmente, é isso a infoxicação.
Há duas consequências desta transformação. Uma é que o líder pode passar a ser seleccionado pelo mercado do burlesco: os presidentes Jimmy Morales, da Guatemala, e Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, saltaram do entretenimento televisivo para o palácio presidencial. O seu carisma é a paródia, mas não se pense que se trata de extravagâncias tropicais ou recônditas. Trump ganhou as esporas num concurso de tele-realidade (décadas antes, Reagan tinha sido ator, mas não foi isso que ilustrou a sua carreira no partido republicano), e ocupa hoje a Casa Branca. Boris Johnson foi despedido do jornal onde trabalhava por ter inventado uma reportagem, num momento esclarecedor sobre a sua profissão, e é hoje primeiro-ministro de Sua Majestade britânica. São mestres do burlesco, mais vale não menosprezar o seu êxito. A segunda consequência, mais ameaçadora, é que o triunfo de Trump em 2016 força a imitação: o mundo mudou com esse improvável evento eleitoral, revelador do abismo comunicacional que se forjou nos últimos anos, e a receita vai ser repetida em vários tons. Depois disto, muitas campanhas eleitorais passarão a seguir a regra do blitzkrieg, dado que, como Trump provou, a glória vem de mentir tanto e tão depressa que seja impossível desmentir, assim eletrizando as redes e fanatizando os apoiantes.
Em vários países, perfilam-se candidatos que se destacaram nessas redes ou no cruzamento com a tele-realidade, a fronteira mais próxima. A França é um desses casos. Segundo o Politico, um site de informação e análise baseado nos EUA, o presidente Macron temeria a emergência de um concorrente de direita que seria Jean Marie Bigard, que faz a sua carreira como influencer no Youtube e em espetáculos de multidões. Escreve o analista do Politico que Bigard se apresenta como o último homem que fica de pé no bar, sempre furioso. Tem outros concorrentes a essa janela de oportunidade: Afida Turner, uma cantora franco-americana que quer representar os coletes amarelos e anuncia a sua disponibilidade tuitando aos “dear fans”; Cyril Hanouna, um apresentador de televisão de reportagens choque, roçando a homofobia e acusado de falsificação jornalística; e, sobretudo, Didier Raoult. Este médico, promotor da cloroquina no tratamento ao Covid, apresenta-se como um druida de longos cabelos prateados, nota Salmon, fazendo-se notar por tiradas bombásticas acerca das monstruosas conspirações que o entravariam, prometendo responder aos media “roubando-lhes o monopólio da palavra” e pretendendo subir ao poder à custa de promessas belicosas. Depois do anti-clímax com Hollande e da desilusão com Macron, o burlesco pode vir a ocupar o primeiro plano do debate francês.
Este curso faria empalidecer a ficção, como na série Baron Noir, em que a disputa política acaba por ser polarizada entre um candidato do sistema, aliás um trânsfuga político que cumpriu pena por crime financeiro, Philippe Rickwaert, e um candidato populista, Christophe Mercier, que propõe substituir as eleições por sorteios para os mandatos representativos e cuja influência teria sido fabricada pelas redes sociais. Ora, se comparado com os candidatos que se prenunciam em França neste campo, Mercier parece não ser mais do que cordato comerciante de aldeia. A decrepitude de um regime mede-se nos dias de hoje pela emergência de bufões que possam ser viáveis para disputar eleições.
Não só em França, aliás; no Brasil, o apresentador de televisão Luciano Huck tem escrutinado a possibilidade de se apresentar como a solução institucional que constituísse uma aliança entre partidos de direita para substituir o truculento Bolsonaro. Nos Estados Unidos, para favorecer Trump capturando algum eleitorado negro descontente, o rapper arqui-reacionário Kanye West lança a sua candidatura. Em Portugal, uma parte da direita desloca-se para Ventura, o ex-representante de clube de futebol numa televisão populista. Ainda não vimos de tudo, o grotesco tem muito mais para inventar.
O ministério da verdade
Se a sociedade do medo assenta num poder ubuesco, cujos líderes ascendem com o argumento da insegurança para depois governarem com o da indiferença, que se qualificam pelo burlesco e se apoiam na criação de partidos, redes e algoritmos obsessivamente multiplicativos, não será este gigante demasiado frágil? Não constituirá a comunicação os pés de barro deste sistema, dado que o que é dito e redito pode ser desdito? A experiência prova que não, ou nem sempre, ou não nas condições em que se possa restabelecer a tempo uma racionalidade argumentativa. A razão para essa dificuldade é a rede.
Metade da população mundial está já ligada à internet. Para a maioria, essa conexão concede uma experiência viciante de vida que consiste no jogo ou na rede socizl, ou os dois, ou seja, o refúgio des-socializado e o simulacro de sociedade. Isso cria comunicação, mas é uma comunicação de tipo novo, orientada pelo algoritmo, subordinada à génese de mitos como nenhuma outra forma anterior, dado que não conhece intermediações e se baseia na intensidade emotiva, em que a exuberância é o mercado mais promissor. Neste mundo, o influencer é o bufão do baixo clero, o sargento das redes, cuja ambição é o dinheiro e uma fama efémera arrancada pelo abuso da trivialidade, a mais universal de todas as linguagens.
No caso de Portugal, 63% de quem cá vive será informado pelas redes sociais e já não pelos meios tradicionais do século XX; na Coreia do Sul, são dois terços da população; nos Estados Unidos, 70% dos adolescentes têm como referência o Instagram, 85% o Youtube. O que não se antecipava, à medida que foi crescendo este paraíso digital em que todos são apresentados como iguais, foi que a bufaneidade ocupasse uma parte tão importante da sua comunicação. E é uma clara marca de polarização política: numa sondagem recente do YouGov, 44% dos republicanos declaram acreditar que Bill Gates criou o coronavírus para implantar um chip em cada pessoa através da futura vacina (ainda há 19% dos democratas que aceitam esta tese). O Pew Research Center concluiu em março que 30% dos republicanos pensavam que o Covid tinha sido criado para atacar o seu país (metade entre os democratas). Tinham todos lido essas certezas nas redes sociais, que se vão tornando o equivalente ao ministério da verdade de George Orwell.
Aaron Greenspan, que estudou em Harvard e foi colega de Zuckerberg, com quem terá inventado o Facebook em 2003 e 2004 (a empresa pagou-lhe há dez anos uma fortuna para encerrar um litígio judicial por direitos autorais, em condições não reveladas) e que se tornou um crítico dos perigos da gestão das redes sociais, publicou um relatório em janeiro do ano passado em que afirma que metade dos perfis mundiais são falsos, com base em dados da própria empresa. O FB desmente, apesar de reconhecer um número mais reduzido, um em cada vinte. A diferença é sensível mas, mesmo que a poluição seja menor do que o que sugere Greenspan, a vulnerabilidade à manipulação industrial, à mecânica da avalancha e ao sistema de bolhas é construída por esta mancha imensa e pela velocidade da transmissão sobre ela. Ora, nunca houve um outro meio de comunicação, menos ainda o mais poderoso do mundo, que não fosse sujeito a alguma forma de obrigação legal ou a regras comuns de atuação, de controlo de ideoneidade dos criadores de conteúdos, de dever fiscal nos lugares onde opera o seu negócio. Agora, as redes sociais e as suas multinacionais estão acima dessas obrigações e não mostram qualquer vontade de se lhes submeterem.
Assim, neste ministério da verdade, a informação informa mas não tem fontes reconhecíveis, é produzida por uma miríade de replicações; a torrente não é verificável, o seu mapa é o caos; e a publicidade é manuseada de acordo com a nossa história, sabendo tudo sobre cada pessoa. A rede não depende de credibilidade, como um dia aconteceu com as empresas de comunicação, antes promove a ocupação de espaço emocional, e nisso sobressai o burlesco. Não nos oferece um produto, o produto somos nós, como sublinhou Paulo Pena no seu livro Fábrica de Mentiras: Viagem ao Mundo das Fake News. Assim, nunca houve comunicação tão avassaladora e é nisso que o bufão se estriba para erguer a sua carreira. Sem as redes, seria meramente uma piada; com a devoção da sua multidão, passou a ser um candidato a Ubu.
Poderia dizer-se que houve sempre arbítrio e que essa é mesmo uma marca da modernidade. Ou que a solenidade e a pose das democracias ocidentais escondeu caves de tortura, genocídios coloniais, censuras de muitas formas, ou que a ordem viveu sempre de regras e excepções. Haverá sempre algo de ubuesco nos poderes ameaçados, como aconteceu com Nixon e o Watergate em 1975, com Mitterrand e a bomba que afundou o navio da Greenpeace em 1985, com Felipe Gonzalez e os GAL, o grupo para-militar formado para executar assassinatos entre 1983 e 1987. Mas estas operações escondiam-se, não eram motivo de orgulho anunciado, chocavam com o senso comum, pareciam ser a excepção da regra. Não se imaginava então que um chefe de uma potência nuclear comunicasse decisões por tuítes, buscasse apoio com uma agenda limitada a criar ressentimento e ódio, se enfunasse com os números de infetados e mortos por uma pandemia que desprezou, ou se vangloriasse da sua bufoneidade. Não se imaginava que o presidente do Brasil fosse alguém que lamenta não ter havido mais trinta mil mortos na ditadura ou que elogia as milícias de traficantes de droga. Ou que se rodeassem de terraplanistas ou de opositores às vacinas, no meio de todos os delírios da reicindência nas redes. Pois tem sido isso mesmo que tem dado vitórias à nova extrema-direita.
O sonambulismo da razão
O bufanismo é uma estratégia, mas não é uma estratégia clássica de organização social e política, exatamente porque atua e se nutre da modernidade líquida, do instantaneísmo, da hipercomunicação, do que flui e não do que permanece. Os bufões repetem-se exaustivamente, no que enunciam uma forma de ser, mas não pretendem coerência, antes vangloriam o arbítrio, requerendo portanto a apatia da democracia. Não é um conjunto de ideias, nem sequer um programa, é um instrumento, por isso ainda mais perigoso. O bufanismo pretende substituir o que se proclamava irredutível, a democracia ancorada em direitos formais, o parlamentarismo, o contrato social negociado ou imposto, em todo o caso reconhecível, pelo arbítrio, que Trump explicita na tentativa de controlo do judiciário e de alteração de regras eleitorais, ou que Bolsonaro alardeia com os seus ministros militares e as manifestações contra o Supremo Tribunal. Sob a sua lei, rondamos o horizonte do totalitarismo, do poder infame que não reconhece nem regras nem o seu povo.
Os dois mais bem sucedidos bufões da nossa era, Trump e Bolsonaro, são assim algo mais do que um caso de navegação habilidosa em redes e de engenharia do caos, são uma ameaça civilizacional que enuncia a possibilidade de uma nova forma de política ambicionando a dominação ubuesca. Mas também indicam que a técnica da avalancha pode ser vítima de cansaço. Não se vive em excitação em cada segundo. O ódio tem que conviver com a sociedade, que é um lugar natural de criação de sociabilidades, mesmo que rasgada por divisões de classes e de culturas. Assim, a substituição da autenticidade pelo calculismo é perseguida pela exaustão da bufoneidade. Esta tem sido um êxito, o seu reacionarismo fervoroso é catártico, jura uma consagração profética para vidas que são discriminadas como insignificantes, responde à pobreza prometendo uma descarga emocional purificadora, e o sucesso da empresa é testemunhado pela constatação de que é ainda entre as populações mais desfavorecidas que resistem estes feudos eleitorais. Só que a ritualização, que é exigida por esta política em modo avalancha, vai esvaziando a exaltação: veja o que se passa com os comícios de Trump, ou com as tiradas de Bolsonaro, ou até com as bufonadas do nosso bolsominion caseiro, a repetição cansa, acomoda-se. A depuração de ódios individuais para dar lugar à construção de ódios coletivos pode sempre naufragar na praia da vida quotidiana. A tele-realidade deslumbra enquanto é tele, mas a realidade subsiste sempre. Mais ainda, como a irresponsabilidade é o preço do grotesco, é na gestão da crise pandémica que explode a incompetência, manifestando o barbarismo dos mestres bufões. As aflições de Trump, Bolsonaro, Johnson, Modi e outros demonstram como a longa saga que vai da desregulação liberal até à desarticulação dos serviços de saúde têm transformado as potências que dirigem em Estados zombies, incapazes de providenciarem proteção aos seus cidadãos quando a doença os ameaça.
Os mais flamejantes, Trump e Bolsonaro, tinham sido inicialmente dados como improváveis vencedores de contendas eleitorais em que eram os candidatos surpresa. No entanto, há um ano já seriam considerados improváveis perdedores na reeleição, por se terem revelado capazes de manipularem freneticamente a bufonaria. Agora, de repente, perante o risco de vida ou morte, consomem-se na sua própria farsa. Esvaídos pelo seu desprezo pela gente, podem perder, mesmo que não tenham adversários fortes, simplesmente porque mostraram demasiado claramente quem são e o que representam, ou como navegam o seu poder grotesco. Resta-lhes, a um e a outro, como aos seus imitadores, o passo seguinte na luta pela sobrevivência do poder, o refúgio na necropolítica, e essa é ameaça que a pandemia já começou a revelar. Devemos então importunarmo-nos com esta nova aflição? Talvez a habituação nos esteja a anestesiar, sob esse sentimento de destino irrefutável que está associado à vulgarização da bufonice no vértice do mundo, onde se pavoneia Trump, o “super-génio”. Mas é assim que o mundo se vai tornando mais ameaçador. O sonambulismo não nos protegerá de uma fase mais perigosa do vírus ubuesco. Não vai ficar tudo melhor.
Publicação original: Expresso. Lisboa, 15.08.2020
Francisco Louçã é professor universitário e militante do Bloco de Esquerda