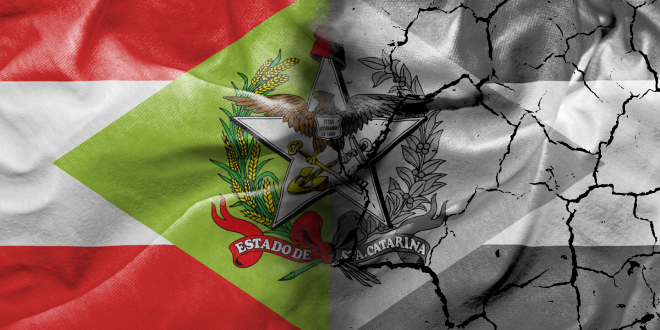27 de março de 1973. Alguém levantou o capuz que me cobria a cabeça e reconheci aquele espaço: um pátio dividido ao meio por um muro. De um lado, a cela forte, o X1, X2 e o X3. Do outro, a cela destinada às mulheres, o X4 e o X5. Entrava no Distrito Policial que emprestava suas dependências, na esquina da Rua Tutoia com a Tomás Carvalhal, ao Doi-Codi do II Exército, em São Paulo. Pela terceira vez.
Fui empurrado para a cela forte, onde passaria os primeiros dias de abril. Ali morrera Alexandre Vannucchi Leme, estudante de Geologia na USP, no dia 17 de março. O corpo frágil, estava convalescendo de uma cirurgia de apendicite, no momento da captura. Não resistiu à brutalidade dos espancamentos que sofreu nos interrogatórios. Alexandre tinha 22 anos. Esses são os fatos.

Em todos os tempos e latitudes, as tiranias se assemelham. Repetem métodos testados empiricamente no seu exercício de oprimir povos e nações, até ao esgotamento. Como nos períodos de tirania não há espaço para a contestação, elas têm as mãos livres para elaborar “a verdade conveniente” ao exercício do poder. Para elas, que se imaginam eternas, os fatos não têm relevância. Importa o édito, o comunicado, a versão oficial.
Leio o que reproduziram os jornais naquele momento (1973):
“Em um comunicado divulgado no último sábado, dia 31 de março, à tarde o Secretário de Segurança de São Paulo, general Sérvulo Mota Lima, deu a versão oficial dos fatos que culminaram com a morte de Alexandre Vannucchi Leme (…). De acordo com a nota oficial, Alexandre foi preso no dia 16 de março ‘por pertencer a uma organização subversiva autodenominada Ação Libertadora Nacional’. No dia 17, diz a nota, Alexandre foi levado para o cruzamento das ruas Bresser com Celso Garcia, no Brás, ‘onde teria um encontro com um companheiro’, às 11 horas. Os agentes de segurança ficaram à distância enquanto‘Alexandre dirigiu-se a um bar onde pediu uma cerveja.’ ‘Repentinamente, diz a nota, saiu em desabalada carreira, aproveitando-se de que o semáforo, recém-aberto, ainda permitia uma passagem arriscada e impossibilitaria uma perseguição face ao volume de tráfego: a tentativa não foi coroada de êxito para Alexandre, pois quando ultrapassou a primeira fila de veículos foi atingido pelo caminhão Mercedes-Benz, placa NT 1903, dirigido por João Cascov’. (Semanário Opinião, 2-9/4/1973).
Durante anos, décadas, prevaleceu a palavra dos algozes, sobre o silêncio dos vencidos. Para desgosto dos vencedores, porém, a História não se detém. Nem os vencedores são eternos como imaginavam.
Dos retalhos de conversas com outros companheiros, recolhidos nos dias que se seguiram, e da minha própria percepção do espaço tumular da cela forte onde Alexandre expirou à míngua de socorro, compus o poema “As mãos limpas” como um testemunho necessário, posto em palavra, para gravar o estigma na face do regime que se impunha ao país torturando até à morte, sua juventude. Esse, afinal, deve ser o papel da poesia em tempos sombrios.
As mãos limpas
“Sobre a mesa as mãos de um homem:
brancas, limpas, tranquilas.
Mãos de um habitante das cidades.
Por si mesmas não dizem nada.
Acariciam os cabelos do filhos,
o rosto da mulher,
compram os jornais, dirigem o automóvel,
estarão suadas ao meio-dia.
Esses, afinal, são gestos universais.
Contudo, neste fim de tarde eu as vejo
exaustas, vazias, manchadas de sangue.
O corpo de Alexandre repousa sem algemas,
(é pouco mais que um adolescente).
Da boca obstinada não fugiu palavra
e, na morte, seu rosto resplandece.
Daquelas mãos não se dirá:
“Estão marcas com o sangue dos inocentes.”
Ei-las lavadas, neutras, polidas cuidadosamente,
prontas a repetir os gestos universais.
Acariciar os cabelos do filho, o rosto da mulher,
passear pela cidade, insuspeitadas.
Ir ao cinema. Levar o cigarro à boca.
Confundir-se entre as mãos comuns
dos homens comuns, dessa cidade comum.”
(Poemas do Povo da Noite, pág. 39, 4a. Edição, Editora Fundação Perseu Abramo/ Publisher, S. Paulo, 2017).
Dez anos depois, em 25 de março de 1983, entrei ao lado de Paulo Vannuchi, seu primo e meu companheiro de cárcere, pela nave central da Catedral da Sé. Carregávamos a urna com os restos de Alexandre, localizados numa cova individual, em Perus, identificados e finalmente devolvidas à família, para receber a sepultura digna que uma sociedade civilizada deve assegurar aos seus cidadãos mortos.
Ao lado do altar repousava o féretro de Frei Tito de Alencar, trasladado do Convento Dominicano, em Eveux, província de Lyon, no exílio onde tentou sobreviver aos seus demônios que acabaram por leva-lo à árvore onde encerrou seu suplício.
A sociedade brasileira reencontrava ali dois dos seus filhos que, na morte, venceram a brutalidade da tortura e marcaram com suas cinzas o estigma na cara dos assassinos. Numa cerimônia histórica que, como poucas, concentrou em duas horas de culto a extensão e a profundidade da tragédia vivida pelo Brasil durante regime de terror de estado que ainda perduraria por alguns anos.
Presidida por D. Paulo Evaristo Arns, o mesmo cardeal desassombrado que desafiara a ditadura em 1973 ao realizar a Missa de Sétimo Dia por Alexandre, sob o cerco do aparato repressivo, na primeira manifestação da sociedade brasileira contra o rosário de crimes que eram perpetrados impunemente nos porões de um regime que se imaginava eterno, como disse acima.
Cinquenta anos depois, tendo mobilizado as forças populares mais representativas do país para estabelecer um novo pacto constitucional, materializado na Carta de 1988; depois de ter vivido a primeira experiência de um governo democrático-popular coroado de êxito no combate às desigualdades sociais e regionais e de afirmação de nossa soberania, sem ferir as regras democráticas; e sofrido um golpe de estado em 2016, em alguma medida porque não conseguiu virar a página dos anos de chumbo; a sociedade brasileira se vê, neste 2023, mais uma vez diante do desafio de enfrentar esse passado que se recusa a ser passado. Como um morto-vivo segue rondando as instituições democráticas como uma ameaça – vide os atos de depredação de 8 de janeiro – em nome de uma oligarquia que até hoje não absorveu a Lei Áurea e de uma casta de parasitas, em que se converteram as Forças Armadas, que se recusam a assumir suas responsabilidades pelos crimes cometidos nos porões do regime ditatorial de 1964-1988.
A imagem de Alexandre Vannucchi Leme, como a imagem de Frei Tito, sua vida e sua morte cobram da sociedade brasileira, cinquenta anos depois o compromisso com o resgate da memória, da verdade e da justiça “Para que a gente nunca esqueça! Para que nunca mais aconteça!
Pedro Tierra é poeta. Ex-presidente da Fundação Perseu Abramo.