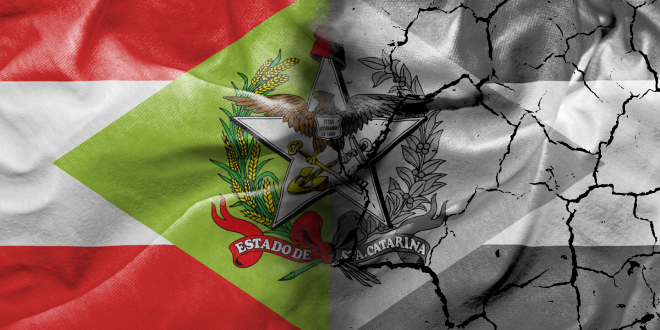Da Carta Maior
Da Carta Maior
Dando por certo que Cristina Fernández de Kirchner não irá disputar uma terceira eleição presidencial, a pergunta torna-se inevitável: e quem será o candidato do kirchnerismo?
Antes de tentar saber quem será o próximo presidente dos argentinos, importa saber como a corrente política que propôs e trata de executar um projeto político específico ao longo dos últimos dez anos pretende se apresentar numa disputa eleitoral que será especialmente dura, e na qual estará em jogo muito mais que a presidência em si: estará em jogo o futuro de um projeto de país e, também, o futuro de uma nação. E isso, com todas as suas conseqüências no futuro das relações com os outros países da América Latina, a começar pelo Brasil.
O esquema inicialmente proposto era ousado, muito ousado, mas igualmente viável, ao menos em teoria: o casal Nestor/Cristina Kirchner se alternaria em eleições, porque seu projeto demandaria tempo para mudar a cara e a realidade do país, e esse tempo igualmente serviria para que surgissem sucessores capazes de adaptar o projeto a novas realidades e levá-lo adiante.
Ou, claro, para que também se comprovasse sua inviabilidade, ou seu eventual fracasso.
Para o positivo ou o negativo, era possível traçar uma previsão. A aposta, para o casal Kirchner, claro, era no positivo.
Acontece que, nesse meio tempo, Néstor Kirchner morreu. A agenda foi para o brejo. Não houve tempo de formar uma alternativa, ou a alternativa tentada revelou-se um fracasso. Cristina se elegeu em dezembro de 2007 e se reelegeu em 2011, mas não pode se candidatar de novo.
E a verdade é que o kirchnerismo, em sua linha central, não teve tempo de criar uma opção confiável – nem para o eleitorado kirchnerista, que pode ser muito maior do que parece, nem para o próprio kirchnerismo.
É grande o risco de que essa tendência peronista termine quando o mandato de Cristina Fernández de Kirchner acabe. Alguns pontos centrais – redistribuição de renda, justiça social, resgate da soberania, principalmente econômica – poderão sobreviver, com as inevitáveis adaptações exigidas pelo tempo e, acima de tudo, pela realidade que tudo condiciona.
E o outro lado, num país tão radicalizado, tão polarizado?
O outro lado é um mistério, e qualquer alternativa – aliás, até dentro do próprio kirchnerismo – é preocupante.
Se, como dizia Tom Jobim, o Brasil não é para principiantes, a Argentina é menos ainda.
Desde pelo menos 1948 – e lá se vão 65 anos – não há nada que aconteça no país que não passe pelo peronismo, a favor ou contra, e nessa conta entram as várias ditaduras que se alternaram com períodos democráticos desde 1955.
Foi negociando com o peronismo que o general Lanusse encerrou, em 1973, uma ditadura, e foi negociando com o mesmo peronismo que, em 1982, os militares começaram (de novo: era outra ditadura) a negociar sua saída de cena. Na oposição ou na situação, legalizado ou clandestino, o peronismo jamais deixou de ser figura central na cena política do país.
O peronismo soube ser de direita, de extrema direita, soube ser neoliberal, soube ser nacionalista, soube ser progressista, soube ser de esquerda. Entre John William Cooke e José López Rega, houve – e há – de tudo, da mesma forma que entre o breve simbolismo de Héctor Cámpora, em 1973, e o neoliberalismo desenfreado de Carlos Menem vinte anos depois. Nem Arturo Illia nem outro Arturo, o Frondizi, conseguiram governar sem pactuar, de uma ou de outra forma, com o peronismo.
Isso, quando Perón estava vivo. Os dois Arturos foram derrubados por golpes militares, que só se mantiveram no poder enquanto não – não – se entenderam com o peronismo.
Acontece que Perón morreu há muitos anos, em 1974. E desde então, não há ninguém para dizer o que é o peronismo. Aliás, antes também não existia. Ele mesmo, com sua teoria do pêndulo, manipulava tudo.
O peronismo ora era de esquerda, ora de direita. Tudo ia ao sabor dos ventos que só ele sabia detectar no ar.
O kirchnerismo é uma corrente atual, atuante, dessa rara mistureba onde tudo cabe e nada sobra, onde nada cabe e sobra tudo.
Existem, claro, os preceitos fundacionais. Mas eles acabam sendo como certos prelúdios de Chopin. Interpretados por Arthur Moreira Lima, são uma coisa. Pela minha vizinha do 201, outra.
Dia 27 de outubro, um domingo de lua minguante, pode ser que a Argentina comece a desenhar seu futuro. E é bom saber que desse futuro nós também dependemos em boa medida.
A Argentina, é bom recordar, vive hoje tempos de uma radicalização, de uma polarização, poucas vezes vividos antes. A maioria esmagadora dos meios de comunicação, o empresariado – em especial o vinculado ao agronegócio – e o mercado financeiro fazem o que podem e o que não podem (mas nesse caso tentam cada vez mais) para destacar as falhas e erros do governo, que são muitos, e esmagar e ocultar as conquistas (que são muito mais). Assim se darão as eleições do 27 de outubro, porta de entrada para a decisão que virá em 2015.
No horizonte visto do lado de cá, a visão mais positiva – ou menos inquietante, por mais inquietante que seja – aponta para o governador de Buenos Aires, o maior estado do país, o maior colegiado eleitoral, Daniel Scioli. Do lado de lá, dependendo do desempenho de seus apadrinhados, o atual prefeito de Buenos Aires (na verdade, governador: Buenos Aires é como Brasília, uma cidade estado), Mauricio Magri, que até hoje ninguém sabe se supera seu ultra-conservadorismo com sua incompetência administrativa absoluta, ou vice-versa.
Todos os outros nomes são acessórios.
O que não é nada acessório é o futuro do país.