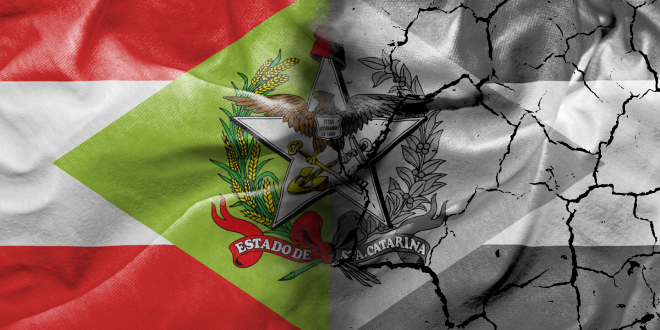Nos últimos dias, veicula-se nas redes sociais e meios de comunicação em geral o “fim dos autos de resistência”. Essa informação deriva daquilo que consta na Resolução Conjunta nº 2, de 13 de Outubro de 2015 do Conselho Superior de Polícia e do Conselho Nacional dos Chefes da Polícia Civil, publicada no Diário Oficial da União do dia 4 de janeiro de 2015 que, em síntese, põe fim ao uso do termo “autos de resistência” ou “resistência seguida de morte” nos boletins de inquéritos e ocorrências policiais em todo o país.
Nos últimos dias, veicula-se nas redes sociais e meios de comunicação em geral o “fim dos autos de resistência”. Essa informação deriva daquilo que consta na Resolução Conjunta nº 2, de 13 de Outubro de 2015 do Conselho Superior de Polícia e do Conselho Nacional dos Chefes da Polícia Civil, publicada no Diário Oficial da União do dia 4 de janeiro de 2015 que, em síntese, põe fim ao uso do termo “autos de resistência” ou “resistência seguida de morte” nos boletins de inquéritos e ocorrências policiais em todo o país.
Por Cristian Ribas* e Rodger Richer*
Ao nos depararmos com tal notícia imediatamente pensamos: que ótimo início de ano! Contudo, analisando mais detalhadamente a resolução, encontramos profundas divergências. Vejamos:
1º – Embora seja inspirada na Resolução nº 8 de 21 de dezembro 2012, do Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH), vinculado à Secretaria Nacional de Direitos Humanos (SDH), que dispõe sobre a abolição de designações genéricas como “autos de resistência” e “resistência seguida de morte” em registros policiais, boletins de ocorrência, inquéritos policiais e notícias de crime, a publicação mantém a presunção de inocência do agente policial diante do homicídio, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de direito.
A alteração do uso dos termos “autos de resistência” ou “resistência seguida de morte” para “lesão corporal decorrente de oposição à intervenção policial” ou “homicídio decorrente de oposição à ação policial” não rompe com mecanismos que produzem violações dos direitos humanos;
2º – A Resolução avança na uniformização dos procedimentos internos das polícias judiciárias federal e civil, adequando os procedimentos de investigação em casos de morte ou lesão corporal provocados pela ação policial. Porém, não estende-se à Polícia Militar. Segundo a pesquisa Desigualdade Racial e Segurança Pública em São Paulo – Letalidade policial e prisões em flagrante, realizada em 2014 pelo Grupo de Estudos sobre Violência e Administração de Conflitos da Universidade Federal de São Carlos (GEVAC/UFSCar), a Polícia Militar do Estado de São Paulo entre os anos de 2009 e 2011 foi responsável por 96% das mortes em ocorrências, contra 4% da Polícia Civil. Essa pesquisa aponta, ainda, que os policiais militares envolvidos em casos de homicídios são majoritariamente aqueles ligados a grupos especiais: 39% são integrantes da ROTA e 54% pertencem à Força Tática. Com isso, nota-se que a resolução não atinge justamente o grupo policial que concentra os maiores índices de letalidade.
É um grande equívoco, portanto, celebrar o fim dos “autos de resistência”, dado que a resolução trata apenas da modificação da terminologia do registro para a parcela das polícias que se encontram fora da estrutura militar e que já são acompanhadas de maior controle social. Entretanto, permanece a lógica da atual política de segurança pública, marcada pelos signos da desigualdade e do racismo, das execuções extrajudiciais, da tortura, da violação dos direitos humanos, da aplicação seletiva das leis e do extermínio sistêmico de jovens negros e pobres.
Os “autos de resistência” foram criados como medida administrativa durante a Ditadura Militar a fim de legitimar a repressão do regime e hoje entende-se que muitas vezes funcionam como uma “licença para matar” e encobrir crimes por parte dos agentes públicos de segurança, embora o ordenamento jurídico brasileiro não preveja a exclusão da ilegalidade ou da investigação pelo simples registro dos “autos de resistência”. Ainda assim, a prática constitui-se como um “modus operandi’’ para as polícias e, em segundo plano, para o judiciário dispensar elementos fundamentais para o devido processo de investigação de um homicídio decorrente de intervenção policial.
Esta forma de registro de homicídios tem levado a uma omissão sistemática do Ministério Público, que teria como função a atuação no controle externo da atividade policial e a investigação isenta e imparcial das mortes decorrentes de ação policial, bem como a titularidade da ação penal – ou seja, aquele que oferece a denúncia. Segundo o relatório “Você matou meu filho”, divulgado pela Anistia Internacional em 2015, na cidade do Rio de Janeiro,cerca 80% dos casos de homicídio praticados por policiais militares em serviço foram arquivados sem que tivessem suas investigações concluídas entre 2014 e 2015. Esses índices chegam a ser maiores em outros estados. No ano de 2014, na cidade de São Paulo, apenas 4% dos policiais autores de homicídios foram indiciados.
Juventude negra – a carne mais barata do mercado!
O racismo é um dos elementos estruturais da nossa atual política de segurança publica. Ele cria uma filtragem racial elegendo “inimigos” e classificando outros como “donos do poder”. Essa compreensão é refletida diretamente nas abordagens policiais que identificam na pessoa negra uma permanente suspeita, sobretudo em se tratando da juventude, principal alvo da ação violenta e fatal do Estado.
O Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Violência contra Jovens Negros e Pobres, publicado em julho de 2015, reafirmou o que há décadas o movimento negro vem denunciando: a existência do Racismo Institucional impregnado no modelo de Segurança Pública e a existência do Genocídio de jovens negros e pobres.
Essa Comissão apresenta uma série de recomendações que visam a combater a violência praticada contra a juventude negra brasileira, como a aprovação do Projeto de Lei 4471/12, de autoria do Deputado Federal Paulo Teixeira (PT-SP), que põe fim aos “autos de resistência” e dispõe que a vítima não seja classificada como resistente à intervenção policial antes da investigação e prevê regras mais rigorosas de apuração, ampliando o controle externo. O PL garante ainda que a família da vítima passe a ter o direito de fazer o acompanhamento presencial das investigações, a inclusão da Defensoria Pública no processo investigativo e exige o cumprimento da função por parte do Ministério Público, além de isolar a cena do crime de uma maneira mais eficiente, já que fica proibido o acesso dos policiais antes da chegada da perícia.
De acordo com o Mapa da Violência de (2015), no ano de 2012 morreram 2,5 mais negros que brancos no Brasil. As principais vítimas dessas mortes são jovens negros (entre 15 a 29 anos) com baixa escolaridade e moradores das periferias dos grandes centros urbanos. Dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)/Datasus apontam que mais da metade dos 56.337 mortos por homicídio em 2012 no Brasil eram jovens (27.471, correspondente a 52,63%), sendo que 93,30% do sexo masculino e 77% negros.
Grande parte dessas mortes estão relacionadas à “guerra às drogas”. Contudo, o alvo dessa guerra não são as drogas: é a população negra e pobre. Afinal, no conflito entre o tráfico e a polícia quem está morrendo não são substâncias tornadas ilícitas ou até mesmo aqueles que efetivamente se beneficiam do lucro dessas vendas ilegais, mas sim a juventude negra.
O Racismo no Brasil se escancara quando nos deparamos com as diferenças alarmantes dos índices de homicídios entre negros e brancos. Segundo informações apresentadas no Relatório da CPI já citado, ser negro no Brasil significa nascer com a expectativa de vida 114% menor que uma pessoa branca, quando se trata de homicídios. A seletividade racial dos assassinatos em nosso país é sem dúvidas a violação de direitos humanos mais gritante e escandalosa pratica pelo Estado Brasileiro.
Apontar as contradições e os limites da Resolução conjunta nº 2, de 13 de Outubro de 2015, é também buscar mobilizar e sensibilizar a sociedade e o Poder Público para o fortalecimento de ações que assinalem que o efetivo fim dos chamados autos de resistência é tarefa vital para o Estado Democrático de Direitos e para a garantia do direito à vida da juventude negra.
Nossa sociedade e, principalmente, o Estado brasileiro precisam entender a necessidade e urgência para com a memória, a verdade e a justiça dos crimes da nossa democracia.
Cristian Trindade Ribas é Membro do Conselho Nacional de Direitos Humanos e Secretário de Organização do Coletivo Nacional de Juventude Negra – ENEGRECER
Rodger Richer é Diretor de Combate ao Racismo da UNE e membro do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial (CNPIR)