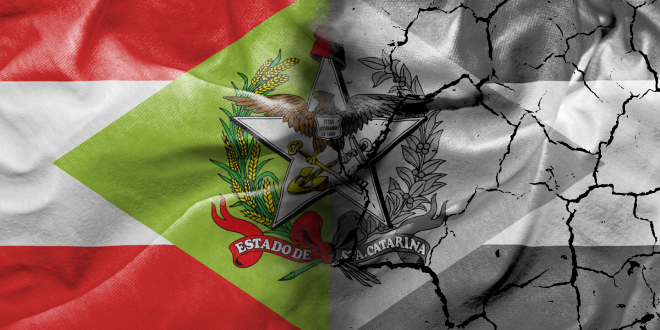Trecho, selecionado pelo autor, do livro recém-lançado

Globalização e internacionalismo: atualidade do Manifesto comunista
O Manifesto Comunista é o mais conhecido de todos os escritos de Marx e Engels. De fato, nenhum outro livro, salvo a Bíblia, foi com tanta frequência traduzido e reeditado. Naturalmente, ele não tem muito em comum com a Bíblia, salvo a denúncia profética da injustiça social. Da mesma forma que Isaías ou Amós, Marx e Engels levantaram suas vozes contra as infâmias dos ricos e poderosos, e em solidariedade com os pobres e humildes.
Assim como Daniel, eles leram a escrita no muro da Nova Babilônia: Mene, Mene, Tequel Ufarsim [teus dias estão contados]. Mas, contrariamente aos profetas do Antigo Testamento, eles não depositavam suas esperanças em nenhum deus, nenhum messias, nenhum salvador supremo: a libertação dos oprimidos seria obra dos próprios oprimidos.
O que permanece do Manifesto 150 anos depois? Algumas passagens ou alguns argumentos já tinham se tornado obsoletos durante a vida de seus autores, como eles mesmos reconheceram em seus numerosos prefácios. Outros se tornaram no curso de nosso século e exigem um reexame crítico. Mas o propósito geral do documento, seu núcleo central, seu espírito – existe algo como o “espírito” de um texto – não perdeu nada de sua força e de sua vitalidade.
Esse espírito resulta de sua qualidade ao mesmo tempo crítica e emancipadora, isto é, da unidade indissolúvel entre a análise do capitalismo e o chamado à sua destruição, entre o exame lúcido das contradições da sociedade burguesa e a utopia revolucionária de uma sociedade solidária e igualitária, entre a explicação realista dos mecanismos de expansão capitalista e a exigência ética de “suprimir todas as condições no seio das quais o homem é um ser diminuído, sujeitado, abandonado, desprezado”.
De muitos pontos de vista, o Manifesto é não somente atual, mas mais atual hoje do que há 150 anos. Tomemos como exemplo seu diagnóstico da globalização capitalista. O capitalismo, insistiam os dois jovens autores, está levando a cabo um processo de unificação econômica e cultural do mundo, submetendo-o a seu tacão.
“Pela exploração do mercado mundial, a burguesia imprime um caráter cosmopolita à produção e ao consumo em todos os países. Para desespero dos reacionários, ela roubou da indústria sua base nacional. […] No lugar do antigo isolamento de regiões e nações autossuficientes, desenvolvem-se um intercâmbio universal e uma universal interdependência das nações. E isto se refere tanto à produção material como à produção intelectual”.[i]
Não se trata somente de expansão, mas também de dominação: a burguesia “por meio do rápido aperfeiçoamento de todos os instrumentos de produção e dos meios de comunicação enormemente facilitados, transformou até mesmo a nação mais bárbara em civilizada. Em uma palavra, a burguesia cria o mundo à sua imagem”.[ii] Isso era, em grande medida, em 1848, mais uma antecipação de tendências futuras que uma simples descrição da realidade contemporânea. Trata-se de uma análise que é muito mais verdadeira hoje, na época da globalização, do que há 150 anos, no momento da redação do Manifesto.
Nunca antes o capital conseguiu, como no fim do século XX, exercer um poder tão completo, absoluto, integral, universal e ilimitado sobre o mundo todo. Nunca antes pôde impor, como atualmente, suas regras, suas políticas, seus dogmas e seus interesses a todas as nações do globo. Nunca antes existiu uma tão densa rede de instituições internacionais – como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, a Organização Internacional do Comércio – destinada a controlar, governar e administrar a vida da humanidade segundo as regras escritas do livre mercado capitalista e do livre lucro capitalista. Nunca antes estiveram todas as esferas da vida humana – relações sociais, cultura, arte, política, sexualidade, saúde, educação, divertimento – tão completamente submetidas ao capital e tão profundamente imersas nas “águas geladas do cálculo egoísta”.[iii]
Entretanto, a brilhante – e profética – análise da globalização do capital, esboçada nas primeiras páginas do Manifesto, padece de certas limitações, tensões ou contradições que resultam não de um excesso de zelo revolucionário, como o afirma a maioria dos críticos do marxismo, mas, pelo contrário, de uma postura insuficientemente crítica em relação à civilização industrial-burguesa moderna. Vejamos alguns desses aspectos, que estão estreitamente ligados entre si.
(1) A ideologia do progresso típica do século XIX se manifesta na forma visivelmente eurocêntrica como Marx e Engels expressam sua admiração pela capacidade da burguesia de arrastar “para a corrente da civilização até as nações mais bárbaras”: graças a suas mercadorias baratas, “ela obriga a capitularem os bárbaros mais tenazmente xenófobos” (uma referência clara à China). Eles parecem considerar a dominação colonial do Ocidente como parte do papel histórico “civilizador” da burguesia: essa classe “subordinou o campo à cidade, os países bárbaros ou semibárbaros aos países civilizados, subordinou os povos camponeses aos povos burgueses, o Oriente ao Ocidente”.[iv]
A única restrição a essa distinção eurocêntrica, mas colonial, entre nações “civilizadas” e “bárbaras” é a passagem em que ele questiona a “assim chamada civilização” (sogennante Zivilisation), a propósito do mundo burguês ocidental.[v]
Em escritos posteriores, Marx assumiria uma postura muito mais crítica em relação ao colonialismo ocidental na Índia e na China, mas foi necessário esperar pelos teóricos modernos do imperialismo – Rosa Luxemburgo e Lênin – para que fosse formulada uma denúncia marxista radical da “civilização burguesa” do ponto de vista de suas vítimas, isto é, dos povos dos países colonizados. E só com a teoria da revolução permanente de Trótski é que apareceria a ideia herética segundo a qual as revoluções socialistas começarão mais provavelmente na periferia do sistema – nos países dependentes. É verdade que o fundador do Exército Vermelho se apressaria em acrescentar que, sem a extensão da revolução aos centros industriais avançados, notadamente à Europa ocidental, ela estaria, com o tempo, destinada ao fracasso.
Esquece-se, com frequência, que em seu prefácio à tradução russa do Manifesto (1881), Marx e Engels vislumbraram a hipótese de que a revolução socialista começaria na Rússia – apoiando-se nas tradições comunitárias do campesinato –, antes de se estender à Europa ocidental. Esse texto – da mesma forma que a carta, redigida na mesma época, a Vera Zasulich – responde antecipadamente aos argumentos pretensamente “marxistas ortodoxos” de Kautsky e Plekhánov contra o “voluntarismo” da Revolução de Outubro de 1917 – argumentos que voltaram à moda hoje, após o fim da URSS –, segundo os quais uma revolução socialista não é possível senão onde as forças produtivas atingiram a “maturidade”, isto é, nos países capitalistas avançados.
(2) Inspirados por um otimismo “livre-cambista”, bem pouco crítico em relação à burguesia, e por um método bastante economicista, Marx e Engels previram – erroneamente – que “os isolamentos e os antagonismos nacionais entre os povos desaparecem cada vez mais com o desenvolvimento da burguesia, com a liberdade de comércio, com o mercado mundial, com a uniformidade da produção industrial e com as condições de existência a ela correspondentes”.[vi]
A história do século XX – duas guerras mundiais e inúmeros conflitos brutais entre nações – não confirmou de maneira alguma essa previsão. É da própria natureza da expansão planetária do capital produzir e reproduzir incessantemente o confronto entre nações, quer seja nos conflitos interimperialistas pela dominação do mercado mundial, nos movimentos de libertação nacional contra a opressão imperialista, ou ainda sob mil outras formas.
Observamos hoje, uma vez mais, a que ponto a globalização capitalista nutre os pânicos de identidade e os nacionalismos tribais. A falsa universalidade do mercado mundial desencadeia os particularismos e reforça as xenofobias: o cosmopolitismo mercantil do capital e as pulsões identitárias agressivas se alimentam mutuamente.[vii]
A experiência histórica – particularmente da Irlanda, em sua luta contra o jugo imperial inglês – ensinou poucos anos mais tarde a Marx e Engels que o reino da burguesia e do mercado capitalista não suprimem, mas intensificam – a um grau sem precedentes na história – os conflitos nacionais.
Mas somente com os escritos de Lênin sobre o direito à autodeterminação das nações e os de Otto Bauer sobre a autonomia nacional cultural – dois enfoques habitualmente considerados contraditórios, mas que também podem ser vistos como complementares – surgiu uma reflexão marxista mais coerente a respeito do fato nacional, de sua natureza política e cultural, e de sua autonomia relativa – de fato, sua irredutibilidade – em relação à economia.
(3) Homenageando a burguesia por sua inaudita capacidade em desenvolver as forças produtivas, Marx e Engels celebraram sem reservas a “‘subjugação’ das forças da natureza” e a “exploração de continentes inteiros” pela produção moderna. A destruição do meio ambiente pela indústria capitalista e o perigo para o equilíbrio ecológico que representa o desenvolvimento ilimitado das forças produtivas burguesas são questões fora do horizonte intelectual deles.
Em termos mais gerais, eles parecem que concebiam a revolução sobretudo como ruptura dos “entraves” – as formas de propriedade existentes – que impedem o livre crescimento das forças produtivas criadas pela burguesia, sem colocar a questão da necessidade de revolucionar também a estrutura das próprias forças produtivas, em função de critérios tanto sociais como ecológicos.
Essa limitação foi parcialmente corrigida por Marx, em certos escritos posteriores, em especial em O capital, no qual consta a questão do esgotamento simultâneo da terra e da força de trabalho pela lógica do capital. Foi apenas durante as últimas décadas, com o surgimento do ecossocialismo, que apareceram tentativas sérias de integrar as intuições fundamentais da ecologia no quadro da teoria marxista.
(4) Inspirados pelo que se poderia chamar “o otimismo fatalista” da ideologia do progresso, Marx e Engels não hesitaram em proclamar que a queda da burguesia e a vitória do proletariado “são igualmente inelutáveis”. É inútil insistir sobre as consequências políticas dessa visão da história como processo determinado de antemão, com resultados garantidos pela ciência, pelas leis da história ou pelas contradições do sistema.
Conduzido ao limite – o que não é, que fique bem entendido, o caso dos autores do Manifesto –, esse raciocínio não deixa lugar para o fator subjetivo: a consciência, a organização, a iniciativa revolucionária. Se, como afirma Plekhánov, “a vitória de nosso programa é tão inevitável como o nascer do sol amanhã”, por que criar um partido político, lutar, arriscar sua vida pela causa? Ninguém pensaria em organizar um movimento para garantir a nascimento do sol amanhã…
É verdade que uma passagem do Manifesto contradiz, ao menos implicitamente, a filosofia “inevitabilista” da história: é o célebre segundo parágrafo do capítulo “Burgueses e proletários”, segundo o qual a luta de classes “terminou sempre ou por uma transformação revolucionária da sociedade inteira, ou pela destruição das duas classes em conflito”. Marx e Engels não afirmam explicitamente que essa alternativa poderia se colocar também no futuro, mas essa é uma interpretação possível da passagem.
De fato, é a “brochura Jones” de Rosa Luxemburgo – A crise da social-democracia (1915) – que vai colocar claramente, pela primeira vez na história, a alternativa “socialismo ou barbárie” como escolha histórica para o movimento operário e para a humanidade. É nesse momento que o marxismo rompe de maneira radical com toda visão linear da história e com a ilusão de um futuro “garantido”.
E é apenas nos escritos de Walter Benjamin que se verá finalmente uma crítica profunda, em nome do materialismo histórico, das ideologias do progresso, que desarmaram o movimento operário alemão e europeu alimentando a ilusão de que bastaria “nadar com a corrente” da história.
Seria falso concluir de todas essas observações críticas que o Manifesto não escapa ao quadro da filosofia “progressista” da história, herdeira do pensamento das Luzes e de Hegel. Mesmo celebrando a burguesia como a classe que revolucionou a produção e a sociedade, que realizou maravilhas incomparavelmente mais impressionantes do que as pirâmides do Egito ou as catedrais góticas, Marx e Engels rejeitaram uma visão linear da história. Eles destacaram de modo incessante que a espetacular progressão das forças de produção – mais impressionante e colossal na sociedade burguesa do que em todas as sociedades do passado – implicava uma enorme degradação da condição social dos produtores diretos.
É o caso principalmente das análises que fazem do declínio – em termos de qualidade de vida e de trabalho – que significa a condição operária moderna em relação àquela do artesão, e mesmo, em certos aspectos, do servo feudal: “O servo, em plena servidão, conseguiu tornar-se membro da comuna […]. O operário moderno, pelo contrário, longe de se elevar com o progresso da indústria, desce cada vez mais, caindo abaixo das condições de sua própria classe”. Da mesma forma, no sistema do maquinário capitalista, o trabalho do operário torna-se “repugnante” – um conceito fourierista retomado pelo Manifesto; ele perde toda a autonomia e “tiraram-lhe todo o atrativo”.[viii]
Vê-se esboçar aqui uma concepção eminentemente dialética do movimento histórico, na qual certos progressos – do ponto de vista da técnica, da indústria, da produtividade – são acompanhados de regressões em outros domínios: social, cultural, ético. Sobre isso, é interessante a observação segundo a qual a burguesia “reduziu a dignidade pessoal ao valor de troca” e não deixou subsistir qualquer outro vínculo entre os seres humanos senão “o laço do frio interesse, as duras exigências do ‘pagamento à vista’ (die gefühllose ‘bahre Zahlung’)”.[ix]
Acrescentemos a isso que o Manifesto é muito mais do que um diagnóstico – tão profético, tão marcado pelos limites de sua época – da potência global do capitalismo: ele é também, e sobretudo, um chamado urgente ao combate internacional contra essa dominação. Marx e Engels tinham compreendido perfeitamente que o capital, enquanto sistema mundial, só pode ser derrotado por uma ação histórico-mundial de suas vítimas, o proletariado internacional e seus aliados.
De todas as palavras do Manifesto, a última é, sem dúvida, a que chocou a imaginação e o coração de várias gerações de militantes operários e socialistas: “Proletarier aller Länder, vereinigt euch!”, “Proletários de todos os países, uni-vos!”. Não é por acaso que essa interjeição se tornou a bandeira e a palavra de ordem das correntes mais radicais do movimento nos últimos 150 anos. Trata-se de um grito, de uma convocação, de um imperativo categórico ao mesmo tempo ético e estratégico, que serviu de bússola em meio a guerras, enfrentamentos confusos e brumas ideológicas.
Esse chamado é também visionário. Em 1848, o proletariado era uma minoria da sociedade na maior parte dos países de Europa, sem falar do resto do mundo. Hoje, a massa de trabalhadores assalariados explorados pelo capital – operários, empregados, trabalhadores do setor de serviços, precarizados, trabalhadores agrícolas – é a maioria da população do globo. É, e de longe, a força principal no combate de classe contra o sistema capitalista mundial, e o eixo em torno do qual podem e devem se articular as outras lutas e os outros atores sociais.
De fato, isso não diz respeito apenas ao proletariado: é o conjunto das vítimas do capitalismo, o conjunto das categorias e grupos sociais oprimidos – mulheres (um pouco ausentes do Manifesto), nações e etnias dominadas, desempregados e excluídos (o “pobretariado”) – de todos os países que são interessados na mudança social. Isso sem falar da questão ecológica, que não atinge a este ou aquele grupo, mas à espécie humana em seu conjunto.
Depois da queda do Muro de Berlim, decretou-se o fim do socialismo, o fim da luta de classes e mesmo o fim da história. Os movimentos sociais dos últimos anos, na França, na Itália, na Coreia do Sul, no Brasil ou nos Estados Unidos – de fato, por todo o mundo – ofereceram um severo desmentido a esse gênero de elucubração pseudo-hegeliano. O que, pelo contrário, está dramaticamente ausente nas classes subalternas é um mínimo de coordenação internacional.[x]
Para Marx e Engels, o internacionalismo era simultaneamente uma peça central da estratégia de organização e luta do proletariado contra o capital global, e a expressão de um objetivo humanista revolucionário, para o qual a emancipação da humanidade era o valor ético supremo e a meta final do combate. Eles eram “cosmopolitas” comunistas, na medida em que o mundo inteiro, sem fronteiras ou limites nacionais, era o horizonte de pensamento e de ação deles, assim como o conteúdo de sua utopia revolucionária. Em A ideologia alemã, escrita somente dois anos antes do Manifesto, eles destacavam: é somente graças a uma revolução comunista, que será necessariamente um processo histórico mundial, que os indivíduos singulares são libertados das diversas limitações nacionais e locais, são postos em contato prático com a produção (incluindo a produção espiritual) do mundo inteiro e em condições de adquirir a capacidade de fruição dessa multifacetada produção de toda a terra (criações dos homens).[xi]
Marx e Engels não se limitaram a pregar a unidade proletária sem fronteiras. Eles também trataram, durante uma boa parte de suas vidas, de dar uma forma concreta e organizada à solidariedade internacionalista. Em um primeiro momento, reunindo revolucionários alemães, franceses e ingleses na Liga Comunista de 1847-1848, e, mais tarde, contribuindo para a construção da Associação Internacional dos Trabalhadores, fundada em 1864. As Internacionais sucessivas – da Primeira até a Quarta – sofreram crises, deformações burocráticas ou isolamento.
Mas isso não impediu que o internacionalismo fosse uma das forças motrizes poderosas das ações emancipadoras no curso do século XX. Durante os primeiros anos depois da Revolução de Outubro, uma impressionante onda de internacionalismo ativo teve lugar na Europa e no mundo inteiro. Nos anos do stalinismo, esse internacionalismo foi manipulado a serviço dos interesses de grande potência da União Soviética. Mas, mesmo durante o período de degeneração burocrática da Internacional Comunista, ocorreram manifestações autênticas de internacionalismo, como as brigadas internacionais na Espanha de 1936-1938. Mais recentemente, uma nova geração internacionalista reencontrou o gosto pela ação internacionalista, nos levantes de 1968 ou na solidariedade com as revoluções do Terceiro Mundo.
Em nossos dias, mais do que em qualquer período no passado – e muito mais do que em 1848 –, os problemas urgentes do momento são internacionais. Os desafios representados pela globalização capitalista, pelo neoliberalismo, pelo jogo sem controle dos mercados financeiros, pela monstruosa dívida e pelo empobrecimento do Terceiro Mundo, pela degradação do meio ambiente, pela ameaça de crise ecológica – para mencionar só alguns exemplos – exigem soluções mundiais.
Somos forçados a constatar que, diante da unificação regional – a Europa – ou mundial do grande capital, a de seus adversários está perdendo força. Se no século XIX os setores mais conscientes do movimento operário, organizados nas Internacionais, estavam mais avançados do que a burguesia, hoje eles estão dramaticamente atrasados sobre aquela. Jamais a necessidade da associação, da coordenação, da ação comum internacional – do ponto de vista sindical, em torno de reivindicações comuns, e do ponto de vista do combate pelo socialismo – foi tão urgente, e jamais ela foi também tão fraca, frágil e precária.
Isso não significa que o movimento por uma mudança social não deva começar ao nível de uma, ou de algumas nações, ou que os movimentos de libertação nacional não sejam legítimos. Mas as lutas contemporâneas são, em um grau sem precedentes, interdependentes e inter-relacionadas, de uma ponta do planeta até a outra. A única resposta racional e eficaz à chantagem capitalista da deslocalização e da “competitividade” – deve-se baixar os salários e os “encargos” em Paris para ser possível concorrer com os produtos de Bangkok – é a solidariedade internacional organizada e eficaz dos trabalhadores.
Hoje ela aparece, de modo mais claro que no passado, em relação a que ponto os interesses dos trabalhadores do Norte e do Sul são convergentes: o aumento dos salários dos operários da Ásia do Sul interessa diretamente aos operários europeus; o combate dos camponeses e dos indígenas pela proteção da Floresta Amazônica contra os ataques destruidores da agroindústria concerne de perto aos defensores do meio ambiente nos Estados Unidos; a rejeição do neoliberalismo é comum aos movimentos sociais e populares de todos os países. Pode-se multiplicar os exemplos.
De que internacionalismo se trata? O velho “internacionalismo” dos blocos e dos “países guias” – como a União Soviética, a China, a Albânia etc. – está morto e enterrado. Ele foi o instrumento de burocracias nacionais mesquinhas, que o utilizaram para legitimar seu poder político de Estado. Chegou a hora de um novo começo, que ao mesmo tempo preserve o que de melhor havia nas tradições internacionalistas do passado.
Pode-se observar atualmente, aqui e acolá, as sementes de um novo internacionalismo, independente de qualquer Estado. Sindicalistas combativos, socialistas de esquerda, comunistas desestalinizados, trotskistas não dogmáticos e anarquistas sem sectarismo estão procurando os caminhos para a renovação da tradição do internacionalismo proletário.
Uma iniciativa interessante, mesmo se ela permanece limitada a uma única região do mundo, é o Foro de São Paulo, espaço de debate e ação comum das principais forças de esquerda latino-americanas constituído em 1990, que coloca como objetivo o combate contra o neoliberalismo e a busca de vias alternativas, em função dos interesses e das necessidades das grandes maiorias populares.
Ao mesmo tempo, novas sensibilidades internacionalistas aparecem em movimentos sociais com vocação planetária, como o feminismo e a ecologia, em movimentos antirracistas, na teologia da libertação, nas associações de defesa dos direitos humanos ou em solidariedade com o Terceiro Mundo.
Todas essas correntes não se satisfazem com organizações existentes, como a Internacional Socialista, que tem o mérito de existir, mas que está muito comprometida com a ordem de coisas existente.
Uma amostra dos mais ativos representantes dessas diferentes tendências, vindos tanto do Norte como do Sul, se reuniu, em um espírito unitário e fraternal, na Conferência “Intergaláctica” pela Humanidade e contra o Neoliberalismo convocada nas montanhas de Chiapas em julho de 1996 pelo Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN) – um movimento revolucionário que soube combinar, de maneira original e bem-sucedida, o local, isto é, as lutas indígenas em Chiapas, o nacional, isto é, o combate pela democracia no México, e o internacional, isto é, a luta mundial contra o neoliberalismo. Trata-se de um primeiro passo, ainda modesto, mas que vai em uma boa direção: da reconstrução da solidariedade internacional.
É evidente que, nesse combate global contra a globalização capitalista, as lutas nos países industriais avançados, que dominam a economia mundial, têm um papel decisivo: uma mudança profunda da relação de forças internacional é impossível sem que o próprio “centro” do sistema capitalista seja tocado. O renascimento de um movimento sindical combativo nos Estados Unidos é um sinal encorajador, mas é na Europa que os movimentos de resistência ao neoliberalismo são mais poderosos, mesmo se a coordenação deles em escala continental é ainda muito pouco desenvolvida.
Da convergência entre a renovação da tradição socialista, anticapitalista e anti-imperialista, do internacionalismo proletário – fundado por Marx no Manifesto Comunista – e das aspirações universalistas, humanistas, libertárias, ecológicas, feministas e democráticas dos novos movimentos sociais é que poderá surgir o internacionalismo do século XXI.
Michae Löwy é diretor de pesquisa em sociologia no Centre nationale de la recherche scientifique (CNRS). Autor, entre outros livros, de O que é o ecossocialismo (Cortez).
Via A terra é redonda