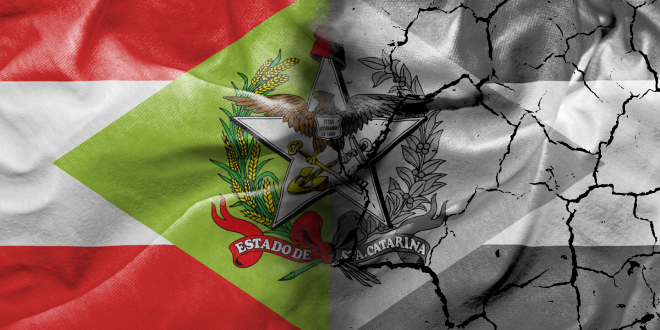Albert Hirschman (Berlim, 1915 – New Jersey, 2012) publicou o ensaio De consumidor a cidadão: atividade privada e participação na vida pública, quarenta anos atrás. Nele, apontava ciclos com a duração razoavelmente regular de um decênio: ora com uma predominância do interesse público, crescimento coletivo e participação social; ora com predomínio do interesse privado e uma forte ênfase no crescimento pessoal. Contradições internas induziriam as passagens de fase. Apesar de o prócer economista não pretender criar uma “teoria dos ciclos”, a la Kondratieff, plantou a ideia.

Depois de uma época devotada a uma expansão econômica individual nos anos 1950, – na Europa, Américas do Norte e do Sul e Japão os anos 1960 estiveram integrados na agenda de guerra e paz, do mítico “espírito de 1968”. Na década subsequente repetiu-se a recaída cíclica. A rebeldia pareceu novamente fora de compasso, atípica. No meio do caminho tinha uma pedra, o neoliberalismo.
“A mudança da década de cinquenta para a de sessenta, daí para a de setenta, e outras alternâncias nos fazem perguntar se as sociedades são de alguma forma predispostas a oscilações entre períodos de intensa preocupação com questões públicas e de quase total concentração no desenvolvimento e no bem-estar individuais”, atiça Albert Hirschman, sabendo a resposta. O establishment manteve-se inalterado com o pêndulo de valores, a todas essas. O vaivém permitiu ao sistema suspender as críticas, absorver as recusas e sublimar as contestações para que nada mudasse substancialmente.
Após a redemocratização iniciada ao fim da ditadura militar, o Brasil viveu um auge privado nos anos 1990 e, na primeira década de 2000, um auge público voltado para segmentos vulneráveis. O decênio de 2010 oscilou. O hiperindividualismo privatista assume a condição hegemônica, no golpe parlamentar-jurídico-midiático que depôs Dilma Rousseff, até a vitória catártica de Lula da Silva à Presidência da República, entre 2016-2022, para recordar os episódios recentes. O comportamento pendular sob o eixo ideológico público-privado afetou também o panorama sociocultural do país.
Dissonância cognitiva
Para retomar a conversa do aristocrata russo e o pensador alemão Immanuel Kant, a “insatisfação” move nossa espécie. “A atividade é a sina do homem. Ele nunca está satisfeito com o que tem, está sempre lutando por mais. Dê a um homem tudo que ele deseja e ainda assim naquele momento exato ele sentirá que este tudo não é tudo”, ponderou o filósofo (Königsberg, 1789). Os corajosos exploradores do Pico Everest, do Ártico e Antártida a exemplo do comandante inglês, Shackleton, na tentativa épica de alcançar o Polo Sul, ajudaram a humanidade a vencer os vários obstáculos e a enriquecer a geografia do homo sapiens. A tragédia de Ícaro ao voar além dos limites, aproximar-se do Sol e derreter as asas não impediu outras incursões para o desconhecido por terra, ar e mar.
Os jacobinos, os bolcheviques, os guerrilheiros de Sierra Maestra, os quilombolas, as feministas e os grupos LGBTs experimentaram um alívio ao propugnar a criação de novas realidades contra as iniquidades. Se as expectativas transcenderam os resultados, tal indica a dissonância cognitiva em readequações que nossa imaginação não conseguiu decifrar. Nicolau Maquiavel definiu o homem como sujeito histórico de transformações e, para o bem ou o mal, responsável pelas consequências.
As dimensões da vida social – política, economia, direito, cultura, moral e costumes – não obedecem ao voluntarismo, nem sucedem de modo uniforme. O desencantamento pode suscitar uma decepção perante esforços tidos por insuficientes. O voto, em si, não funda a utopia. Na análise da conjuntura, quem abstrai a luta de classes e a correlação de forças semeia ilusões. Os atores que se empenham em subverter a ordem das coisas condicionam e são condicionados pelo movimento mudancista. O ex-presidente do Chile, Salvador Allende, advertia: “O socialismo não se impõe por decreto, é um processo em curso”. Na esquerda, a simplificação acarreta rachas e evolui para o sectarismo.
Na extrema direita resvala para a vingança e o terror. Segundo Umberto Eco, o fascismo clássico ou moderno metaboliza dissidências como traições imperdoáveis. Vide o rompimento das relações do Inelegível com Gustavo Bebianno, ex-ministro da Secretaria-Geral; ou com Abraham Weintraub, ex-ministro da Educação; ou com Paulo Marinho, o empresário suplente do 01 no Senado. Em rixa, protagonizam o espetáculo deprimente da desconstrução de reputações. Os bugios arremessam fezes para se defender dos intrusos na jaula, os neofascistas disparam qualquer argumento merda para eliminar os oponentes. Ameaças de retaliação, queimas de arquivo reeditam o filme The Godfather. O ódio, o ressentimento e a violência traduzem a essência distópica da barbárie. It’s just business.
Prática transformadora
No Ocidente há uma acirrada disputa público-privado, desde que o Consenso de Washington (1989) converteu em dogma a privatização das empresas estatais. Na hierarquia do capitalismo neoliberal um empresário tem prestígio superior aos que exercem uma alta vocação pública. A mentalidade mercadista contém a bactéria da intolerância e da antipolítica. Ao glorificar ambições particulares, inscreve-as a fogo nas tábuas dos mandamentos da acumulação, na perspectiva de uma engrenagem acionada pela suposta mão invisível da economia. “A única responsabilidade social das empresas é gerar lucro para os acionistas”, assinalou Milton Friedman, no New York Times. Sob o tacão dos tacanhos Michel Temer e Jair Bolsonaro, a Petrobras abusou e se lambuzou com a recomendação.
No Oriente não se reproduz a aguda competição público vs. privado, os termos não são antônimos. Os asiáticos reconhecem a investidura do Estado na formação do nacionalismo que atravessa os segmentos populares e as classes dirigentes. Donde o mister para atenuar o prisma ocidentocêntrico na antinomia da gangorra. Já os latino-americanos, para comparar, admitem o significado do Estado para o progresso desde os primórdios (Getúlio Vargas, Juan Perón), conquanto as elites continentais cujo europeísmo nostálgico nega a migração jamais firmassem o pacto no aparelho do poder central para incentivar iniciativas ao “bem comum”. Prova-o o descaso com os Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) dos países colonizados e o desprezo pelas etnias originárias, indígenas e negros.
No capítulo “Das atividades privadas para a esfera pública – II” (op.cit.), Albert Hirschman comenta a pesquisa que revela que franceses e ingleses gastam mais tempo em lugares confraternais (bares, restaurantes, etc) do que norte-americanos. Ao revés de interpretar como uma vontade de novidades, fofocas ou estimulações românticas, o autor entende que europeus fogem das ocupações intramuros, stricto sensu, para abordar os assuntos de alcance geral. Dos esportes aos escândalos, do preço dos aluguéis às eleições e o desempenho dos parlamentares, “envolvendo-se nas temáticas associadas ao interesse público”. Em nações individualistas, a convivialidade nos espaços de socialização no lazer ocorre em menor escala. As pessoas falam menos de problemas comuns, numa “multidão solitária”.
Embora a literatura do Orçamento Participativo (OP) não saliente, – a participação na pólis desperta a felicidade pública, à parte da conquista das metas. Militantes desfrutam da participação em uma campanha, independente de o candidato erguer-se com sucesso nas urnas. A gratificação íntima vem do contato com os eleitores, debatendo ideias, soluções, sugestões, juntando energias para avançar. Servidores reinventam-se na presteza administrativa e na solidariedade institucional. A fusão e a confusão entre a dedicação e o prazer é própria das performances inovadoras, com uma cosmovisão radical e empatia com o sofrimento do povo. Conforme Karl Marx, na 3° Tese sobre Feuerbach, quem educa o educador é a “prática transformadora”. Se a práxis liberta, então a ética socialista se retroalimenta de ações. Uma notícia alvissareira, porque de boas intenções o inferno está cheio.
Reformismo revolucionário
A “sociedade unidimensional” descrita por Herbert Marcuse, nos idos de 1964, é produto de uma razão a serviço da irracionalidade. Ecleticamente, articulava Auschwitz e os Shopping Centers, Hiroshima e a Disneyworld. O armamentismo nuclear, o desemprego premeditado, a precarização do trabalho, as terceirizações, a concentração da riqueza, os ajustes fiscais, o CO2 na atmosfera e a destruição da natureza compõem a sintomatologia da “necropolítica”: o sórdido projeto das finanças na atualidade. A novilíngua dos algoritmos de vigilância age como o realismo mágico em romances, manipula os afetos, o consumo e escolhas eleitorais. A mega-greve de roteiristas e atores no templo do entretenimento, Hollywood, abrange o aumento de salários, os lucros advindos do streaming e as indefinidas regras para o uso da Inteligência Artificial. Acena para uma resiliência profana ao capital. Traz à ribalta para discussão a tecnologia que assusta o século XXI, a pitonisa da sigla IA.
A racionalidade técnica, antidemocrática, é o padrão de planejamento dos mercados. Sob pretexto da eficiência (antissocial, frise-se), a legitimação do Banco Mundial, do Banco Central (Brasil) ou do Federal Reserve (EUA) confere ao neoliberalismo um conteúdo de verdade, que se revelou falso no combate à pandemia. No jogo pela sobrevivência, governos redescobriram o papel de indutor da produção e da distribuição de recursos, forçando as adaptações em áreas da produção industrial. As fábricas de tecidos começaram a confeccionar máscaras e vestimentas médicas, as montadoras de carros produziram peças e equipamentos para respiradouros, os setores de bebidas o álcool em gel. Os Estados nacionais renasceram. Os sabichões que juravam não existir dinheiro, viraram memes. O reacionarismo estrutural da mídia não repercutiu a derrota dos princípios sistêmicos. No entanto, a inaptidão do modelo financeiro em face das demandas básicas da saúde pública foi desmascarada.
A esquerda é tímida ao avaliar o que realiza na sociedade, sem um caráter totalizante. As pequenas vitórias são subestimadas, como se as reformas fossem bastardas inglórias em um campo de batalha. Projeta-se o futuro ao contrário do presente. A história salta sobre o cotidiano. Um erro. Para evitar as inevitáveis frustrações, é preciso propor um futuro diferente, ao compartilhar a percepção e o orgulho pelos avanços intermediários em favor da coletividade. Os “anjos tortos” drummondianos devem comemorar as suadas contribuições para reduzir desigualdades, e vacinar-se contra a doença infantil do esquerdismo, a soberba. As elevações do bem-estar social da população e da consciência política das massas condensam a reforma e a revolução, o programa mínimo e o programa máximo.
Com viés anticapitalista, Lucien Goldmann chama o entrelaçamento das estratégias de “reformismo revolucionário”. O conceito não remete à opção por um gradualismo de lutas e direitos, e sim a uma intersecção dialética entre a intervenção na institucionalidade e a atuação político-organizativa nos movimentos sociais. A menção à empreitada, dita reformista, enaltece a perseverança nas guerras de posição. O importante é superar os desígnios da reificação e da opressão. Equacionadas as crises climática, geopolítica e democrática gestadas na modernidade tardia, enfrentaremos os novíssimos desafios públicos do estágio posterior. Inexiste a idílica estação de Pasárgada, na trajetória humana. Em nome dos desesperançados, hoje, e das gerações que virão, amanhã, nos é dada a esperança.
Luiz Marques é Docente de Ciência Política na UFRGS, ex-Secretário de Estado da Cultura no Rio Grande do Sul.