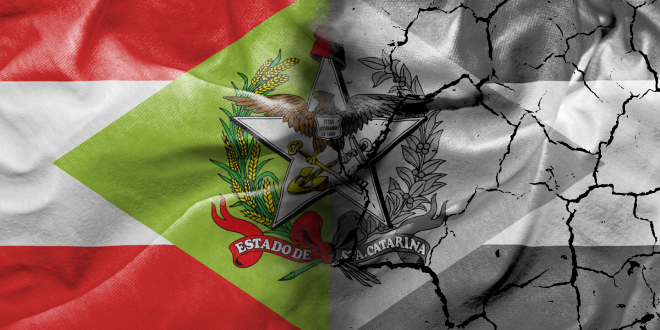Nenhum regime político tem a densidade da democracia. Mesmo os regimes autoritários mantêm os mecanismos constitucionais consagrados no paradigma democrático-republicano, com a divisão de poderes (Executivo, Legislativo, Judiciário) e as instituições políticas, embora o cerco à liberdade. Vide o Ato Institucional (AI-2, 1965) da ditadura militar para assegurar uma maioria no Supremo Tribunal Federal (STF), ao aumentar de 11 para 16 os seus membros. Um Estado de exceção simula administrar somente coisas, e não pessoas, em um esforço farsesco de despolitização da política.

Na nova razão hegemônica, a democracia navega com o leme do ajuste fiscal, desindustrialização, privatização, desemprego e sob pretexto da “narrativa de crise” guia o Estado de direito neoliberal. Desnecessário citar os impostores do lavajatismo que nutriam a antipolítica, em nome do combate à corrupção. A máscara já caiu. Hoje, propaga-se a desvalia da política com o lawfare, sem a manu militari. O discurso de ódio abrange a toga, a opinião patrocinada e o “cretinismo parlamentar”, que reputa a luta da tribuna a principal arma de embate em qualquer conjuntura. A intempérie espiritual não escolhe dia ou hora. Para João Cabral de Melo Neto: “Não há guarda-chuva / contra o mundo”.
Visão da casa grande
Luís Roberto Barroso, explica o que levou à aprovação da Lei das Terceirizações (31/03/2017) na atividade das empresas, em “Judicialização da vida”, no livro 130 anos: em busca da República, organizado por José Murilo de Carvalho et al. “A maioria dos ministros assentou que a Constituição não impõe um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis e tampouco veda a terceirização”. Até aí, tem-se o parecer da legalidade do assunto. O futuro presidente do STF registra o doloroso capitulacionismo trabalhista, a seguir.
“(i) O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade; (ii) A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. O exercício abusivo da sua contratação é que pode produzir tais violações, existindo meios de prevenir e de reprimir tal comportamento”. O imperativo “precisam se adequar” revela que, 350 anos de escravidão, não bastaram para garantir a justiça aos neoescravizados. O menosprezo à labuta mantém-se incólume.
Impõe-se a visão da casa grande, e se devolve à senzala a mão de obra num ambiente contratual de diminuição da massa salarial, em face dos ganhos do capital. O desmonte dos órgãos de fiscalização presencial das Superintendências e Gerências do Trabalho e do Emprego contradiz o lero-lero sobre “os meios de prevenir e de reprimir” as terceirizações em cruentas modalidades de superexploração.
Na Paraíba, a sede da Superintendência esteve interditada pelo risco de incêndio nas instalações elétricas. A Gerência de Osasco, com seis agentes para fiscalizar itens das condições de trabalho, saúde e segurança em dez municípios, em poucos anos registrou 54.318 acidentes, 1.406 boletins de doenças e 192 mortes. “A quem interessa o desmonte da fiscalização do trabalho?”, perguntam a auditora-fiscal Beatriz Cardoso Montanhana e a juíza do TRT-15 Patrícia Maeda (Associação Juízes pela Democracia, n° 70). Inexistem os “meios” competentes de vigilância, alegados na Alta Corte.
Mensagem esquecida
Indissociável da ideia de liberdade como se depreende da definição “governo do povo para o povo”, a democracia naufragou. Rasgou-se a certidão de nascimento da Idade Contemporânea, a declaração de direitos de 1789-1791: “Os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos”. La porte de l’enfer se abriu. Separou-se o trabalhador dos direitos de cidadão. O empresariado subsumiu a “vontade geral”, e o STF assumiu o papel da sociedade sem a alma do Estado de bem-estar social.
Diferente do que prevaleceu até metade do século XIX, voltado à formação iluminista da cidadania, o jornalismo atual visa a subjetividade do homo economicus para o aceite do status quo. Divulgava-se as ideias (valor de uso), e agora as mercadorias (valor de troca). A dimensão comercial venceu. Jornalistas econômicos viraram ventríloquos das finanças, reproduzindo releases de consultorias à guisa de informação. Fake news “técnicas” blindaram a péssima economia contra a boa política. A esquerda faz o Estado intervir na economia para barrar as desigualdades. A direita e sua extrema absolutizam o livre mercado. Não falta remador na canoa furada do totalitarismo da mercadoria.
Ignorou-se a Mensagem para o século XXI, de Isaiah Berlin (1909-1997): “Somos obrigados a fazer concessões, forjar compromissos, lançar mão de oportunidades para que o pior não nos assombre”. A covardia jogou no lixo a vocação possível para o bem coletivo e, no altar, pôs o capital volátil. O mandonismo no topo da pirâmide procurou impedir, na base, um pensamento com dados confiáveis sobre os diversos ângulos da existência social – a economia, a cultura, o direito, o modo de vida, etc.
A opacidade foi a régua no quadriênio do populismo direitista. O próprio despresidente afirmava ser ingovernável o país. Nas redes sociais, os bolsonaristas como os trumpistas aboliram ao máximo o debate público, estruturando-se de forma a incentivar a despolitização e arregimentar bolhas a partir de polêmicas moralistas no Twitter. Na militância cibernética, a adesão era confirmada pelo número de likes. No círculo do ladrão e companhia, a confirmação vinha em caixas de joias milionárias.
Um novo imaginário
A novidade do Plano Plurianual Participativo do governo Lula 3.0 está em colocar a política ao alcance de todas todos e todes, universalizando a deliberação sobre temas centrais para as unidades federativas. A política foge da cretinice do Parlamento e vai às ruas. Assembleias atraem massas de interessados e gestores. À diferença das Conferências Nacionais de gestões anteriores, o PPA-Participativo tem a prerrogativa institucional de escolher as prioridades. O silêncio midiático não é um acaso, senão a tentativa de desqualificar o novo imaginário social e os seus protagonistas.
O tímido ensaio de autogoverno derruba o dogma de que o locus da política é o Legislativo, e os representantes eleitos. A política ocorre em lugares que acolham o povo como sujeito – em vez de objeto de políticas dos demagogos. O experimento traz a marca do humanismo socialista no empoderamento da população, para que a democracia desenvolva o potencial constituinte de um ordenamento sociológico mais igualitário. Recusa os pressupostos do Consenso de Washington.
Sem resvalar em um otimismo panglossiano para o qual “tudo vai melhor no melhor dos mundos possíveis”, como se lê no Cândido, de Voltaire, a isso podemos chamar “pedagogia do oprimido” ou “contra-hegemonia”. Trata-se da construção lenta, não da épica hollywoodiana sobre as tomadas do poder. Depende de um trabalho de persuasão pela práxis, com intervenções permanentes em várias frentes – partidos, sindicatos, entidades comunitárias, trabalhadores informais, movimentos de mulheres, antiracistas, ecológicos, LGBTQIA+, ONGs. A cotidiano deve impulsionar o processo civilizacional de repolitização da política, para uma outra história – saída da sombra – vir à luz.
Não obstante, em artigo incluído no Brasil sob escombros, organizado por Juliana Paula Magalhães e Luiz Felipe Osório, vale o alerta de Breno Altman: “Os fatores orgânicos de corrosão do consenso social seguem presentes, apenas esmaecidos pela sensação de que foi evitado um mal maior. Seria ilusão fatal, se essa pausa provisória conduzisse à inversão de causalidade – o bolsonarismo é produto da crise sistêmica, não seu criador”. Para os liberais econômicos, presentes no governo em curso, chegou-se ao teto. Para os democratas sociais, a Estação Finlândia ainda está muito distante.
Luiz Marques é Docente de Ciência Política da UFRGS, ex-secretário de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul.