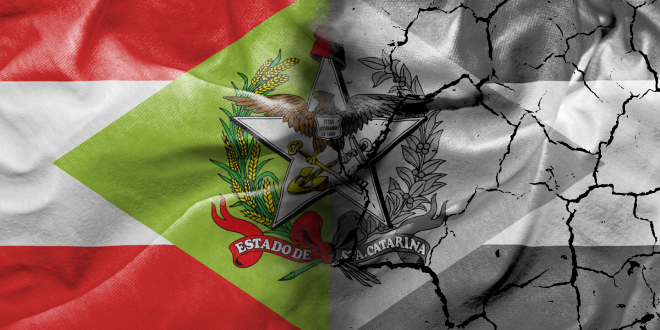O ex-presidente da Associação Internacional de Ciência Política, Jean Leca, nos idos dos anos 1990, comentou em uma ocasião que o Orçamento Participativo (OP) originário de Porto Alegre evocava os sovietes russos, porém, em uma conjuntura não revolucionária. Para o renomado professor da Sciences Po, esse traço distintivo transformou a capital gaúcha em sede do Fórum Social Mundial (FSM). Aos estrangeiros, sobressaía a capacidade de mobilização da população nos bairros de periferia em um contexto que celebrava “o fim da história”, na expressão hegeliana reatualizada por Francis Fukuyama, diante da queda do Muro de Berlim. À época, parecia que a humanidade atingira o teto máximo da evolução ao combinar a democracia representativa com a economia de mercado.

Antes uma prerrogativa do Executivo Municipal e da Câmara de Vereadores, o OP sinalizou o anseio de intervenção popular na esfera política para decidir sobre a distribuição de recursos do erário. Contribuiu para racionalizar a receita, controlar a aplicação do excedente público e promover uma pedagogia profana, alheia ao léxico palaciano, sobre o funcionamento institucional do Estado.
Com sincera admiração, o pensador greco-francês Cornelius Castoriadis conheceu in locus a experiência de democracia participativa, espalhada por centenas de municípios nos hemisférios Sul e Norte. O experimento de radicalidade democratizante é reproduzido, em proporção estadual, há mais de 12 anos consecutivos na Bahia. Compreende-se a penetração do Partido dos Trabalhadores (PT), nos corações e nas mentes do povo baiano. A boa notícia é que o governo Lula da Silva 3.0 pretende adequar o gatilho de cogestão nacionalmente, aproveitando o aprendizado acumulado.
O Plano Plurianual Participativo (PPA Participativo) prevê 27 plenárias estaduais e, não por acaso, teve início em Salvador (BA) em 11 de maio do corrente. Os programas e as ações da administração federal passarão pelo crivo de tal ferramenta metodológica, no próximo quadriênio. A iniciativa empodera a cidadania brasileira, sem suprimir a representatividade política ou retirar as atribuições constitucionais do Congresso Nacional, embora coloque em cena um ator esquecido que, até então, não tinha vez e nem voz. Impossível para os congressistas, posições políticas e ideológicas à parte, ignorarem aquilo que for aprovado pela maioria da sociedade civil organizada, em assembleia.
Os antigos e os modernos
Do ponto de vista histórico, a democracia direta foi inventada no século VI a.C., depois do levante em Atenas liderado por Clístenes – considerado o “pai da democracia” – que derrubou o último tirano grego, Hípias, o qual governou entre 527 a.C. e 510 a.C. O fenômeno coincidiu com a passagem da atitude mítica para a consciência filosófica, na Grécia. As reformas de Clístenes, na condição de legislador, pariram em 514 a.C. o nascimento da democracia ao ampliar a presença popular na deliberação sobre os rumos da pólis, isto é, da Cidade-Estado. Descoberta tão formidável como a roda para auxiliar no transporte em priscas eras, na aventura tecnológica dos humanos.
Não quer dizer que a política não existisse em outros quadrantes anteriormente; por exemplo, entre as etnias indígenas cuja riqueza convivial ao longo das Américas continua a ser objeto de estudos antropológicos. Quer dizer apenas que o Ocidente orgulha-se de atribuir o berço da democracia à praça ateniense (ágora), convertida em espaço de reunião para debater e votar o interesse público.
O famoso discurso de Benjamin Constant, Da liberdade dos antigos à liberdade dos modernos (1819), explica a metamorfose da forma dominante da política que conduziu da participação à representação. A liberdade dos antigos tinha caráter republicano e partícipe, requeria investimento e energia dos indivíduos para se doarem à coletividade. Coisa que pressupunha a existência de uma subcamada social encarregada do trabalho produtivo, para os cidadãos livres (com a exclusão das mulheres, metecos e escravizados) dispenderem tempo à política. A guerra integrava a agenda.
Já a liberdade dos modernos teve por base as liberdades civis, em especial as garantias individuais como escudo de proteção aos excessos e abusos pelo poder estatal. A votação em representantes liberou os indivíduos para o atendimento das questões particulares, envolvendo os negócios e a família. As lides de trocas foram priorizadas para moldar as relações interpessoais e entre nações. A Terra girou. O mais importante deixou de ser a iminência da guerra. O comércio entrara na agenda.
Na interpretação de Benjamin Constant, a Revolução Francesa – motor simbólico da modernidade – tentou seguir o modelo da República Romana com suas instituições, tipo o Consulado e o Tribuno da Plebe, mas deu com os burros n’água. Resultou na ditadura autocrática de Napoleão Bonaparte. Ao contrário, enfatizava o escritor, o modelo a seguir seria a Monarquia Constitucional inglesa, oriunda da Revolução Gloriosa. A Inglaterra, um país populoso forjado no espírito comercial, estava melhor adaptada à praticabilidade da liberdade dos modernos. Suas práticas de vida comum em sociedade deveriam servir, de inspiração, à consolidação dos novíssimos padrões civilizacionais.
A satisfação por participar das decisões públicas, na antiguidade, cedeu lugar a outros prazeres na modernidade. “Perdido na multidão, o indivíduo quase nunca percebe a influência que exerce. Sua vontade não marca o conjunto; nada prova, a seus olhos, a sua cooperação. O exercício dos direitos políticos nos proporciona uma fatia ínfima da satisfação que os antigos nele achavam, e, ao mesmo tempo, os progressos da civilização, a tendência comercial da época, a comunicação entre os povos variaram ao infinito as formas de felicidade particular”, destaca o crítico do Terror jacobino (1792-1794), período em que milhares de pessoas perderam literalmente a cabeça, na lâmina da guilhotina.
A satisfação é medida pelos valores burgueses, por óbvio. As tentações do consumo se afiguravam mais fortes que os ideais de engajamento em atividades públicas, contestadoras do status quo. Não raros, enxergam aí o prenúncio temporal de uma pós-modernidade. Outros, conquanto admitam as mudanças culturais na realidade, não subscrevem a tendência finalística. As belas promessas de liberdade, igualdade e fraternidade ainda não foram cumpridas na modernidade, argumentam Jürgen Habermas e Alain Touraine. Somente depois será lícito empregar o prefixo divisório – “pós”.
O contraste entre a democracia direta e a democracia representativa corresponde à oposição entre a participação cívica (dos antigos) e a independência privada (dos modernos). Mas devagar com o andor. “O perigo da liberdade antiga estava em que, atentos unicamente à necessidade de assegurar a participação no poder social, os homens não se preocupassem com os direitos e as garantias individuais. O perigo da liberdade moderna está em que, absorvidos pelo gozo da independência privada e na busca dos interesses particulares, renunciemos demasiado facilmente a nosso direito de participar do poder político”. Como pavimentar um caminho que contorne ambas as ameaças?
Um passo para o futuro
Duzentos anos passados, o otimismo de Constant não se confirmou. A felicidade e a paz faltaram ao encontro tão esperado. A imaginação iluminista do século XVIII, com a ilusão do progresso linear associado à dominação da natureza, se mostrou calamitosa. As filosofias da história e as ideologias (liberalismo, socialismo, anarquismo) do século XIX, a favor ou contra o capitalismo, pisavam em areia movediça. No século XX, os avanços tecnológicos e o desenvolvimento das forças produtivas não equacionaram as desigualdades entre as classes sociais e as regiões do planeta. No século XXI, os problemas se agravaram a ponto de ameaçar a sobrevivência da humanidade, pelo desequilíbrio ecológico e a criação da criatura que se volta contra o criador: a Inteligência Artificial (IA). Lembra o Dr. Jekyll subjugado pelo seu cruel alter ego, Sr. Hyde, na novela de Robert Louis Stevenson.
O irracionalismo se alastra com a expansão da extrema-direita, que mescla o neofascismo com o neoliberalismo e o neoconservadorismo. O ruim fica pior. A tragédia é maior, na comparação com a década de 1930, em função do poder das armas de destruição em massa disponíveis atualmente. Os movimentos neonazistas contemporâneos, que cooptam jovens perturbados para cometer atos terroristas em escolas infantis, são potencialmente mais perigosos por causa do arsenal ao alcance, sob um clima de ódio às conquistas em prol da igualdade de gênero / raça e da diversidade sexual.
O PPA Alternativo, proposto na terceira governança de Lula, oferece a possibilidade de os setores organizados da sociedade civil palmilharem um debate sobre questões capazes de acender uma centelha de esperança para o mundo. Isso é o que significa a participação social, no momento. Não se trata de uma ponte para o passado. Não substitui a representação política, e sequer poderia em escala nacional ou transnacional. Também não elimina do horizonte o consumo, apesar de apontar para um habitus de contenção do desperdício (cada um sabe o montante de lixo que produz) e para a superação da objetificação alienante do sujeito (cada um sabe a montanha de lixo de que é vítima).
É, sim, um passo para o futuro estabelecer novos paradigmas para uma sociabilidade pluralista e uma governabilidade socializante, conciliando a participação cidadã com os direitos civis. A reconstrução do Brasil implica: (a) na reinvenção do fazer político, para além do ar-condicionado do Parlamento e; (b) na expansão da concepção de política, que a mídia apresenta como um predicado exclusivo dos parlamentares, abstraindo o que acontece fora das instituições. Incluir o pobre no orçamento da União só é viável com a inserção do povo em decisões fundamentais para a nação.
“Irmão, é a hora / Apronta-te agora / Passa a outras mãos a invisível bandeira!”, provoca Brecht.
Luiz Marques é Docente de Ciência Política na UFRGS, ex-Secretário de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul.