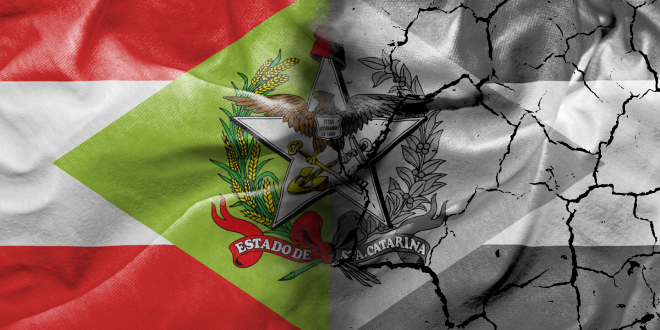Por Renato Dagnino*
Por Renato Dagnino*
Todos os processos de transformação progressista do capitalismo, e aí me refiro temerariamente a um espectro que vai da revolução russa aos dos governos pós-neoliberalismo latino-americanos, tiveram e têm que transformar o aparelho econômico-produtivo e tecnológico herdado.
Processos como os nossos, em que essa transformação de longo alcance tem que ocorrer no marco de um capitalismo periférico conturbado por recursivas crises de governabilidade, demandam ações nas frentes externa e interna. Duas propostas que convivem no seio da esquerda as avaliam de forma distinta. Vou argumentar que só uma delas nos permitirá sair por cima do labirinto – político, mas com causação econômica – em que a direita recorrentemente nos tenta embretar.
Na frente externa, excetuando as alianças provocadas pelo crescente apetite estadunidense, nossos adversários não mudaram muito. Por isso, as ações não têm como diferir substantivamente da proposta nacional-desenvolvimentista pactuada por nossas elites. Trata-se de adicionar valor às commodities, buscar arranjos de integração regional que diminuam nossa dependência dos centros de poder mundial, proteger o mercado para garantir a lucratividade das empresas locais (nacionais e estrangeiras), ganhar a confiança do “mercado global” para atrair investimento estrangeiro direto, etc.
Pelo menos duas dificuldades se somam às que essa proposta enfrentou. A primeira é a mundialização e financeirização do sistema capitalista – unipolar “neoliberalizado” –, associadas às rupturas tecnocientíficas que quem o domina provoca, explora e aproveita. Ela tem sido exaustivamente analisada pela esquerda (e, é claro, pela direita) para propor ações, inclusive no âmbito econômico-produtivo interno, para superá-las.
A segunda dificuldade, ainda que associada à anterior, é mais recente: a “invasão chinesa”. Pouco sensível às políticas nacionais (taxa de cambio, “vaca holandesa”, etc.), ela acentuou a desindustrialização (a participação da indústria no PIB diminuiu de 22% em 1985 para 10%) e a reprimarização (o coeficiente de importação industrial que chegou a ser de 3% está em 26%). Embora causada por um inaudito diferencial de salário industrial médio de mais cinco vezes em relação ao nosso (menos de um dólar por hora, na China, contra o ainda baixo de cinco, no Brasil), ela não tem provocado reflexões e muito menos ações à altura.
Sua gravidade me leva a “engatar” com a abordagem da frente interna.
Aqui não há univocidade de ação possível. A direita – e aqui qualquer distinção passadista entre burguesia nacional e o imperialismo é ilegítima – clama pelo aumento da mais-valia absoluta e, desde que bancada pela subvenção à produtividade, da relativa.
Na linha do nacional-desenvolvimentismo focado na frente externa, a esquerda, no primeiro caso, tem-se portado convencional e reativamente defendendo o “emprego e o salário”. No segundo, proativamente, através da “qualificação” das várias “mãos-de- obra”, do subsídio à inovação, da construção das infraestruturas, etc., que satisfazem o interesse da classe proprietária (que vota na direita) e, via “transbordamento”, podem melhorar a vida dos que já são alvo das políticas sociais (e, assim se espera, votarão na esquerda).
Além da “invasão chinesa”, a renitente informalidade agravada pela tendência mundial da jobless e jobloss growth economy fragiliza a proposta neodesenvolvimentista cujo dinamismo social se baseia na inexequível absorção dos excluídos na economia formal. Em especial na indústria, que é nostalgicamente vista (pelo retrovisor!) como a redenção de nosso países e, de forma míope, como a menina-dos-olhos de seus governos.
A relação entre a população latino-americana em idade ativa (157 milhões de pessoas no caso brasileiro, em 2013) e os que possuem vínculo de trabalho formal (que então se limitavam a 37 milhões) e entre os que trabalham em casas ricas e os empregados na indústria (que são 7 milhões em ambos casos Brasil!) está entre as maiores do mundo.
Outra proposta, ainda minoritária no seio da esquerda, por ter seu foco na frente interna, pode tornar os nossos países, sobretudo se integrados, menos suscetíveis à desordem capitalista global. Em vez de uma improvável e subordinada “inclusão” dos excluídos no circuito econômico-produtivo capitalista, ela propõe sua absorção viável e soberana na “dobradinha” Economia Solidária – Tecnologia Social.
Ela é claramente proativa. De imediato, ao invés do círculo vicioso consumista que tem resultado da incipiente distribuição de renda, ela projeta para o futuro uma sociedade baseada na solidariedade, na propriedade coletiva dos meios de produção, na autogestão, na responsabilidade ambiental e na produção de valores de uso.
Exemplos brasileiros, com a excelente relação benefício x custo do Bolsa Família (0,5% do PIB x 30 milhões tirados da miséria), dão ideia do que é possível alcançar quando a proposta da “dobradinha” passar a ser alavancada pelo poder de compra dos programas estatais.
Ela permitirá evitar que 97% do orçamento do Minha Casa Minha Vida vá para empreiteiras num país onde quase a totalidade das casas pobres resulta da autoconstrução; que cadeias produtivas solidárias, que possam competir em efetiva igualdade de condições com empresas desde sempre subsidiadas (e hoje agraciadas com maior taxa de lucro do mundo), produzam os bens e serviços públicos e de primeira necessidade com preço justo e com a qualidade que só quem come ou usa o que produz pratica.
A primeira proposta subordina a mudança econômico-produtiva e seu rebatimento social a um estilo neodesenvolvimentista “para fora”. O que, ainda que compreensível, dada a relação de forças políticas e as limitações impostas pela governabilidade, é evitável. Em particular tendo em conta que no caso do Brasil seus coeficientes de exportação e importação em relação ao PIB de 11,5% e 14%, respectivamente, o colocam entre os menos dependentes do comércio exterior dos 250 pesquisados pelo Banco Mundial!
A segunda proposta não exclui as suturas emergenciais ou substantivas sugeridas pela primeira: sinteticamente, a maior diferença é a imediata troca da bandeira das políticas: de “emprego e salário” para “trabalho e renda”. Os que a defendem sabem que aquela “dobradinha” não é apenas um reativo “quebra-galho” para esperar que expedientes convencionais tentados há décadas deem resultado. Sabem que é um processo cuja construção – utópica, sistêmica e global – depende do debate com seus pares também interessados num futuro que, apesar de ainda capitalista e periférico, pode ser solidário. Mas sabem também que o longo prazo começa hoje e que a forma mais sensata de não se embretar num labirinto é sair por cima concebendo hoje alternativas para além do imediatismo em que a direita nos quer envolver.
(*) Renato Dagnino é professor titular da Unicamp nas áreas de Política Científica e Tecnológica e Gestão Pública